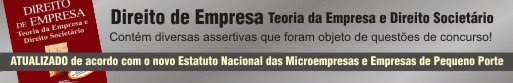Com a Constituição Federal de 1988, foi permitido aos servidores públicos a criação de sindicatos. Até então somente havia associações de servidores.
No âmbito do Judiciário estadual, tínhamos a Associação dos Oficiais de Justiça, que estava sob intervenção e não atuava. Segundo meus colegas diziam, as urnas da eleição estariam lacradas e a intervenção havia ocorrido porque a Presidente da Associação (acho que se chamava Yvone) era muito combativa.
Curiosamente, havia dois sindicatos de servidores do Judiciário Estadual: o Sindicato União e o SINJESP – Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado de São Paulo. Esses dois sindicatos, teoricamente, representariam todos os servidores da Justiça estadual em uma mesma base territorial. Juridicamente, isso não é possível, pois nosso ordenamento prevê a unicidade sindical, segundo a qual somente pode haver um sindicato de uma mesma categoria em uma mesma base territorial.
Não sabíamos, portanto, qual sindicato iria permanecer. O SINJESP era ligado à CUT e o Sindicato União tinha uma linha diferente, não me lembro se ele era filiado à CGT.
O fato é que muitos oficiais de justiça eram filiados ao Sindicato União. Já o SINJESP tinha apoio maior entre os escreventes. Eu tive contato com os dois.
O Sindicato União criticava o SINJESP, alegando que carregar bandeira vermelha em passeata não adiantava nada. Um colega oficial de justiça me disse que o Sindicato União era o melhor, porque teria melhor trânsito entre os desembargadores, o que propiciaria a obtenção de vantagens. Fui aconselhado a me filiar ao Sindicato União. Outro colega ponderou que a escolha de um ou outro sindicato era igual a escolher partido político. Eu não me filiei a nenhum dos dois sindicatos.
clique aqui para continuar...
sexta-feira, 16 de outubro de 2009
domingo, 27 de setembro de 2009
Os bandidos, as vítimas e as testemunhas - Capítulo 4
...Continuação da continuação do Capítulo Bandidos, vítimas e testemunhas...
- Tinha que colocar fogo nessa favela, matar todo mundo.
Fiquei espantado. Ele estava falando sério. Um senhor calmo, simpático, prestativo, acabara de afirmar uma barbaridade: ser favorável ao extermínio de centenas de serem humanos, simplesmente porque viviam em uma favela situada no bairro em que ele morava. O senhor aparentava e com certeza era uma pessoa pobre, embora um pouco menos pobre que os favelados do bairro. Nesse dia compreendi claramente a diferença entre pobreza e miséria, especialmente a diferença entre um pobre e um miserável. E percebi que um pobre pode sentir ódio de um miserável.
Será que ele culpava os favelados pela criminalidade do bairro? Ou simplesmente lhe incomodava a existência de um lugar feio e imundo?
Eu não disse nada. Mas fiquei com a frase ecoando na minha cabeça. À noite, tive um pesadelo terrível, sonhei com os campos de concentração da Segunda Guerra Mundial.
Infelizmente, muita gente não deseja acabar com a pobreza, mas sim acabar com os pobres. Foi por causa desse fato que consegui compreender porque a extrema-direita, que defende os interesses das classes abastadas, paradoxalmente consegue apoio nas classes populares. Foi assim durante a época da Segunda Guerra e continua sendo assim até hoje.
No Capítulo __ irei falar das diligências em presídios, algo que era deprimente. Mas havia algo que me deixava muito mais deprimido do que visitar presídios: fazer diligências em hospitais públicos.
Felizmente foram poucas as ocasiões em que fui intimar alguma testemunha que trabalhava em hospital público. Lembro-me bem da primeira ocasião: eu fui a um hospital, situado em área nobre (!) de São Paulo, e me deparei com uma situação que até então só tinha visto na televisão. O hospital tinha filas quilométricas e, nos corredores, havia macas com doentes, alguns feridos, outros sendo atendidos, familiares chorando etc. Parecia, realmente, uma cena de um filme de guerra. Eu tinha de intimar um rapaz que era estagiário ou residente de medicina.
Eu sentia um forte cheiro de éter enquanto caminhava pelos vários setores do hospital perguntando pelo rapaz que eu deveria intimar (o caos era generalizado), até descobrir que o dia e hora do plantão dele era outro. Mas obtive também seu endereço residencial e optei, óbvio, por ir intimá-lo nesse endereço, para não ter de voltar no hospital. Eu poderia ter deixado um recado com alguém para ele, mas diante do que eu via, pareceu-me óbvio que o recado não seria entregue.
Considerando tudo o que vi nesse hospital, mudei radicalmente meu conceito a respeito do que seria uma “vida boa” e uma “vida ruim”. Na verdade, toda análise de “bom” ou “ruim” é comparativa: diante da situação desesperadora do hospital que eu vi, minha vida era simplesmente excelente, como o leitor verá em algumas outras partes deste livro.
Outra diligência interessante foi em uma unidade da FEBEM. Até então, eu imaginava que a FEBEM só cuidava de menores infratores. Pois bem. Eu fui fazer uma intimação de uma testemunha de defesa, cujo endereço era um local que aparentou ser uma casa residencial. Lá chegando, descobri que era uma casa que abrigava menores abandonados. A pessoa que eu tinha de intimar não estava no momento e eu fiquei conversando com um funcionário da FEBEM que me explicou o que era aquele local. Ele me disse que tratava-se de um dos poucos programas da FEBEM que realmente funcionava, que os menores ficavam abrigados em locais como aquele, que estudavam ou trabalhavam, e somente eram obrigados a sair de lá quando completavam 18 anos. Lamentavelmente, a mídia não divulga esse tipo de programa, os avanços que são paulatinamente feitos e os sucessos obtidos, optando por publicar apenas as mazelas das instituições, como se toda ação estatal se resumisse a corrupção e a desperdício de dinheiro público.
Eu aguardei por alguns minutos a chegada da testemunha. Era uma senhora amável, de uns quarenta anos, que recebeu a intimação, disse que o réu era uma boa pessoa e que iria testemunhar em favor dele.
Algumas diligências eram interessantes não pelo ato em si, mas pelo local em que elas deveriam ser realizadas. Em uma ocasião, fui a uma rua situada próxima ao bairro do Ipiranga, que era constituída de indústrias. Era um domingo e a rua estava completamente deserta. A paisagem era cinzenta e o único barulho era do vento. Fui caminhando pela rua, um pouco frustrado porque provavelmente não acharia ninguém no local, mas ao mesmo tempo curioso com o local inusitado, sentindo que era como se eu estivesse em um filme europeu, daquele tipo que eu via na Mostra de Cinema de São Paulo. Ao final, constatei que o número da rua indicado no mandado não existia. Nesse caso, bastaria certificar esse fato e devolver o mandado.
Uma diligência que me marcou profundamente foi realizada em uma casa linda, situada na Chácara Flora, um bairro residencial de São Paulo. Eu cheguei ao local e fui atendido por uma moça feia e desengonçada, que tinha o rosto cheio de espinhas. Perguntei pela testemunha, a moça feia me respondeu que ela não estava naquele momento, mas que iria chegar daí a pouco tempo. Não me lembro o motivo, mas ela me disse que o local era uma república de estudantes. Eu disse o seguinte, realmente surpreso:
- Puxa, nunca vi uma república em uma casa tão bacana.
Até então, toda república de estudantes que eu tinha visto estavam em casas velhas e feias, normalmente muito bagunçadas, sejam masculinas ou femininas.
A moça desengonçada me disse que a casa era realmente boa, que tinha até piscina. E me convidou para conhecer a casa, seria justamente o tempo de a testemunha chegar.
Aceitei o convite só para ver uma república situada em uma puta casa. Entrei na casa e ela me levou direto ao jardim do fundo da casa, onde estava a piscina. Lá chegando, eu me deparei com uma cena maravilhosa, que jamais vou esquecer: um jardim muito bem cuidado, com duas garotas lindas tomando sol, as duas topless, que nem mesmo notaram a minha presença.
Eu fiquei doido para ir conversar com elas, mas só a feiosa me deu papo. Ela foi me falando da cidade delas (era uma cidade do interior), que elas estavam lá em São Paulo há pouco tempo, mas eu não conseguia prestar atenção. Só pensava nas duas beldades que eu tinha visto.
Fiquei na sala, infelizmente apenas com a moça feia e desengoçada. Deu uns trinta ou quarenta minutos, a testemunha não chegou e eu achei melhor não perder mais tempo lá. Deixei recado com todas as indicações para a testemunha comparecer à audiência e fui embora, com a visão do purgatório e do paraíso na minha mente...
Visitar favelas era algo recorrente. Em outra ocasião, eu estava na região da Av. Cupecê procurando uma favela, quando resolvi pedir informação para um senhor que eu encontrei na rua. Ele me pareceu simpático, perguntou se eu morava no bairro e eu respondi que não. Em seguida ele me explicou como eu deveria fazer para chegar à tal favela, que não estava muito próxima. Eu agradeci a ajuda e ele, secamente, disse-me a seguinte frase:
- Tinha que colocar fogo nessa favela, matar todo mundo.
Fiquei espantado. Ele estava falando sério. Um senhor calmo, simpático, prestativo, acabara de afirmar uma barbaridade: ser favorável ao extermínio de centenas de serem humanos, simplesmente porque viviam em uma favela situada no bairro em que ele morava. O senhor aparentava e com certeza era uma pessoa pobre, embora um pouco menos pobre que os favelados do bairro. Nesse dia compreendi claramente a diferença entre pobreza e miséria, especialmente a diferença entre um pobre e um miserável. E percebi que um pobre pode sentir ódio de um miserável.
Será que ele culpava os favelados pela criminalidade do bairro? Ou simplesmente lhe incomodava a existência de um lugar feio e imundo?
Eu não disse nada. Mas fiquei com a frase ecoando na minha cabeça. À noite, tive um pesadelo terrível, sonhei com os campos de concentração da Segunda Guerra Mundial.
Infelizmente, muita gente não deseja acabar com a pobreza, mas sim acabar com os pobres. Foi por causa desse fato que consegui compreender porque a extrema-direita, que defende os interesses das classes abastadas, paradoxalmente consegue apoio nas classes populares. Foi assim durante a época da Segunda Guerra e continua sendo assim até hoje.
No Capítulo __ irei falar das diligências em presídios, algo que era deprimente. Mas havia algo que me deixava muito mais deprimido do que visitar presídios: fazer diligências em hospitais públicos.
Felizmente foram poucas as ocasiões em que fui intimar alguma testemunha que trabalhava em hospital público. Lembro-me bem da primeira ocasião: eu fui a um hospital, situado em área nobre (!) de São Paulo, e me deparei com uma situação que até então só tinha visto na televisão. O hospital tinha filas quilométricas e, nos corredores, havia macas com doentes, alguns feridos, outros sendo atendidos, familiares chorando etc. Parecia, realmente, uma cena de um filme de guerra. Eu tinha de intimar um rapaz que era estagiário ou residente de medicina.
Eu sentia um forte cheiro de éter enquanto caminhava pelos vários setores do hospital perguntando pelo rapaz que eu deveria intimar (o caos era generalizado), até descobrir que o dia e hora do plantão dele era outro. Mas obtive também seu endereço residencial e optei, óbvio, por ir intimá-lo nesse endereço, para não ter de voltar no hospital. Eu poderia ter deixado um recado com alguém para ele, mas diante do que eu via, pareceu-me óbvio que o recado não seria entregue.
Considerando tudo o que vi nesse hospital, mudei radicalmente meu conceito a respeito do que seria uma “vida boa” e uma “vida ruim”. Na verdade, toda análise de “bom” ou “ruim” é comparativa: diante da situação desesperadora do hospital que eu vi, minha vida era simplesmente excelente, como o leitor verá em algumas outras partes deste livro.
Outra diligência interessante foi em uma unidade da FEBEM. Até então, eu imaginava que a FEBEM só cuidava de menores infratores. Pois bem. Eu fui fazer uma intimação de uma testemunha de defesa, cujo endereço era um local que aparentou ser uma casa residencial. Lá chegando, descobri que era uma casa que abrigava menores abandonados. A pessoa que eu tinha de intimar não estava no momento e eu fiquei conversando com um funcionário da FEBEM que me explicou o que era aquele local. Ele me disse que tratava-se de um dos poucos programas da FEBEM que realmente funcionava, que os menores ficavam abrigados em locais como aquele, que estudavam ou trabalhavam, e somente eram obrigados a sair de lá quando completavam 18 anos. Lamentavelmente, a mídia não divulga esse tipo de programa, os avanços que são paulatinamente feitos e os sucessos obtidos, optando por publicar apenas as mazelas das instituições, como se toda ação estatal se resumisse a corrupção e a desperdício de dinheiro público.
Eu aguardei por alguns minutos a chegada da testemunha. Era uma senhora amável, de uns quarenta anos, que recebeu a intimação, disse que o réu era uma boa pessoa e que iria testemunhar em favor dele.
Algumas diligências eram interessantes não pelo ato em si, mas pelo local em que elas deveriam ser realizadas. Em uma ocasião, fui a uma rua situada próxima ao bairro do Ipiranga, que era constituída de indústrias. Era um domingo e a rua estava completamente deserta. A paisagem era cinzenta e o único barulho era do vento. Fui caminhando pela rua, um pouco frustrado porque provavelmente não acharia ninguém no local, mas ao mesmo tempo curioso com o local inusitado, sentindo que era como se eu estivesse em um filme europeu, daquele tipo que eu via na Mostra de Cinema de São Paulo. Ao final, constatei que o número da rua indicado no mandado não existia. Nesse caso, bastaria certificar esse fato e devolver o mandado.
Uma diligência que me marcou profundamente foi realizada em uma casa linda, situada na Chácara Flora, um bairro residencial de São Paulo. Eu cheguei ao local e fui atendido por uma moça feia e desengonçada, que tinha o rosto cheio de espinhas. Perguntei pela testemunha, a moça feia me respondeu que ela não estava naquele momento, mas que iria chegar daí a pouco tempo. Não me lembro o motivo, mas ela me disse que o local era uma república de estudantes. Eu disse o seguinte, realmente surpreso:
- Puxa, nunca vi uma república em uma casa tão bacana.
Até então, toda república de estudantes que eu tinha visto estavam em casas velhas e feias, normalmente muito bagunçadas, sejam masculinas ou femininas.
A moça desengonçada me disse que a casa era realmente boa, que tinha até piscina. E me convidou para conhecer a casa, seria justamente o tempo de a testemunha chegar.
Aceitei o convite só para ver uma república situada em uma puta casa. Entrei na casa e ela me levou direto ao jardim do fundo da casa, onde estava a piscina. Lá chegando, eu me deparei com uma cena maravilhosa, que jamais vou esquecer: um jardim muito bem cuidado, com duas garotas lindas tomando sol, as duas topless, que nem mesmo notaram a minha presença.
Eu fiquei doido para ir conversar com elas, mas só a feiosa me deu papo. Ela foi me falando da cidade delas (era uma cidade do interior), que elas estavam lá em São Paulo há pouco tempo, mas eu não conseguia prestar atenção. Só pensava nas duas beldades que eu tinha visto.
Fiquei na sala, infelizmente apenas com a moça feia e desengoçada. Deu uns trinta ou quarenta minutos, a testemunha não chegou e eu achei melhor não perder mais tempo lá. Deixei recado com todas as indicações para a testemunha comparecer à audiência e fui embora, com a visão do purgatório e do paraíso na minha mente...
Tópicos modificados
Ainda estou no que chamo de "ajustes finais" do livro. Nesse processo, tenho não só corrigido alguns erros de digitação, concordância, imprecisão etc mas também estou acrescentando mais informações, simplesmente porque vou lembrando de mais detalhes e de outros fatos interessantes. Assim, ao final do processo, haverá significativa diferença entre o que está neste blog e o que será publicado na forma de livro. A despeito disso tudo, continuo postando alguns tópicos, de forma aleatória.
Por enquanto, a estrutura do livro é a seguinte:
Advertência ao leitor.
1.A primeira favela. O lado pobre da rica cidade de São Paulo.
2.Estudando para o concurso público: de filhinho de papai (adolescência) a Oficial de Justiça (fase adulta).
3.A vara criminal.
4.Os bandidos, as vítimas e as testemunhas.
5.Minha mãe, as mães dos bandidos e as mães das vítimas. Família, pobreza e criminalidade.
6.Investigadores de polícia, carteiros, cobradores de ônibus e taxistas.
7.Advogados, juízes e outras espécies da fauna judiciária.
8.O dia em que, sem querer, eu plantei uma nulidade em um processo criminal.
9.O dia em que eu evitei fosse plantada uma nulidade em um processo criminal.
10. O centro de São Paulo. O fórum e o elevador do fórum.
11.O Carandiru e outros presídios.
12.As delegacias de polícia. O problema da segurança pública em São Paulo.
13.A corrupção na polícia e no Judiciário.
14.Políticos, empresários e prostitutas.
15.Crime de rico e crime de pobre.
16.A Associação dos Oficiais de Justiça, os sindicatos dos servidores do Judiciário e as greves de 1989 e de 1990. O reajuste de 150% nos salários dos oficiais de justiça.
17.A parte boa de São Paulo.
18.Dando “carteirada” como Oficial de Justiça.
19. Passei no vestibular e fui estudar Direito na USP.
20.A liberdade que o dinheiro proporciona.
21.Os desafios seguintes.
22.Conclusões.
Por enquanto, a estrutura do livro é a seguinte:
Advertência ao leitor.
1.A primeira favela. O lado pobre da rica cidade de São Paulo.
2.Estudando para o concurso público: de filhinho de papai (adolescência) a Oficial de Justiça (fase adulta).
3.A vara criminal.
4.Os bandidos, as vítimas e as testemunhas.
5.Minha mãe, as mães dos bandidos e as mães das vítimas. Família, pobreza e criminalidade.
6.Investigadores de polícia, carteiros, cobradores de ônibus e taxistas.
7.Advogados, juízes e outras espécies da fauna judiciária.
8.O dia em que, sem querer, eu plantei uma nulidade em um processo criminal.
9.O dia em que eu evitei fosse plantada uma nulidade em um processo criminal.
10. O centro de São Paulo. O fórum e o elevador do fórum.
11.O Carandiru e outros presídios.
12.As delegacias de polícia. O problema da segurança pública em São Paulo.
13.A corrupção na polícia e no Judiciário.
14.Políticos, empresários e prostitutas.
15.Crime de rico e crime de pobre.
16.A Associação dos Oficiais de Justiça, os sindicatos dos servidores do Judiciário e as greves de 1989 e de 1990. O reajuste de 150% nos salários dos oficiais de justiça.
17.A parte boa de São Paulo.
18.Dando “carteirada” como Oficial de Justiça.
19. Passei no vestibular e fui estudar Direito na USP.
20.A liberdade que o dinheiro proporciona.
21.Os desafios seguintes.
22.Conclusões.
quarta-feira, 16 de setembro de 2009
Passei no vestibular e fui estudar no Largo São Francisco
Logo depois de começar a trabalhar como Oficial de Justiça eu me inscrevi em um cursinho preparatório para o vestibular. Escolhi o Anglo, situado na Rua Sergipe, no Bairro da Consolação.
Fui fazer o cursinho à noite, porque durante o dia eu trabalhava. Não foi uma época fácil, porque não basta apenas ir às aulas: é preciso revisar toda a matéria dada em classe. Eu assistia a todas as aulas, raramente perdia alguma, anotava tudo. Mesmo quando o professor era ruim eu estava presente, porque sempre se aprende alguma coisa.
De uma maneira geral, o cursinho era bom, a turma era exigente com o nível dos professores. Tinha uma galera que sentava no fundo da sala e só queria zoar, como freqüentemente ocorre. Mas a maioria, como eu, estava lá para estudar e passar no vestibular.
clique aqui para continuar...
Fui fazer o cursinho à noite, porque durante o dia eu trabalhava. Não foi uma época fácil, porque não basta apenas ir às aulas: é preciso revisar toda a matéria dada em classe. Eu assistia a todas as aulas, raramente perdia alguma, anotava tudo. Mesmo quando o professor era ruim eu estava presente, porque sempre se aprende alguma coisa.
De uma maneira geral, o cursinho era bom, a turma era exigente com o nível dos professores. Tinha uma galera que sentava no fundo da sala e só queria zoar, como freqüentemente ocorre. Mas a maioria, como eu, estava lá para estudar e passar no vestibular.
clique aqui para continuar...
Marcadores:
direito,
estudante de direito,
faculdade,
oficial de justiça,
são francisco,
vestibular
terça-feira, 1 de setembro de 2009
Tópicos do livro
Terminei de escrever o livro e estou nos ajustes finais. Os tópicos ou capítulos do livro estão mencionados abaixo. Parte do livro está disponibilizada nos posts deste Blog, de uma forma desorganizada, mas que possibilita ao leitor ter uma boa idéia de como será o livro.
Modifiquei bastante a estrutura do livro desde que comecei a escrevê-lo. Ficou assim:
Advertência ao leitor.
1.A primeira favela. O lado pobre da rica cidade de São Paulo.
2.Estudando para o concurso público: de filhinho de papai (adolescência) a Oficial de Justiça (fase adulta).
3.A vara criminal.
4.Os bandidos, as vítimas e as testemunhas.
5.Minha mãe, as mães dos bandidos e as mães das vítimas. Família, pobreza e criminalidade.
6.Investigadores de polícia, carteiros, cobradores de ônibus e taxistas.
7.Advogados, juízes e outras espécies da fauna judiciária.
8.O dia em que eu passei no vestibular.
9.O dia em que, sem querer, eu plantei uma nulidade em um processo criminal.
10.O dia em que eu evitei fosse plantada uma nulidade em um processo criminal.
11. O centro de São Paulo. O fórum e o elevador do fórum.
12.O Carandiru e outros presídios.
13.As delegacias de polícia. O problema da segurança pública em São Paulo.
14.A corrupção na polícia e no Judiciário.
15.Políticos, empresários e prostitutas.
16.Crime de rico e crime de pobre.
17.A Associação dos Oficiais de Justiça, os sindicatos dos servidores do Judiciário e as greves de 1989 e de 1990. O reajuste de 150% no salário dos oficiais de justiça.
16.A parte boa de São Paulo.
19.Dando “carteirada” como Oficial de Justiça.
20.A Faculdade de Direito do Largo São Francisco.
21.A liberdade que o dinheiro proporciona.
22.Os desafios seguintes.
23.Conclusões.
Modifiquei bastante a estrutura do livro desde que comecei a escrevê-lo. Ficou assim:
Advertência ao leitor.
1.A primeira favela. O lado pobre da rica cidade de São Paulo.
2.Estudando para o concurso público: de filhinho de papai (adolescência) a Oficial de Justiça (fase adulta).
3.A vara criminal.
4.Os bandidos, as vítimas e as testemunhas.
5.Minha mãe, as mães dos bandidos e as mães das vítimas. Família, pobreza e criminalidade.
6.Investigadores de polícia, carteiros, cobradores de ônibus e taxistas.
7.Advogados, juízes e outras espécies da fauna judiciária.
8.O dia em que eu passei no vestibular.
9.O dia em que, sem querer, eu plantei uma nulidade em um processo criminal.
10.O dia em que eu evitei fosse plantada uma nulidade em um processo criminal.
11. O centro de São Paulo. O fórum e o elevador do fórum.
12.O Carandiru e outros presídios.
13.As delegacias de polícia. O problema da segurança pública em São Paulo.
14.A corrupção na polícia e no Judiciário.
15.Políticos, empresários e prostitutas.
16.Crime de rico e crime de pobre.
17.A Associação dos Oficiais de Justiça, os sindicatos dos servidores do Judiciário e as greves de 1989 e de 1990. O reajuste de 150% no salário dos oficiais de justiça.
16.A parte boa de São Paulo.
19.Dando “carteirada” como Oficial de Justiça.
20.A Faculdade de Direito do Largo São Francisco.
21.A liberdade que o dinheiro proporciona.
22.Os desafios seguintes.
23.Conclusões.
sexta-feira, 21 de agosto de 2009
O dia em que eu evitei fosse plantada uma nulidade em um processo criminal (Capítulo 10)
Nós tínhamos prazo de trinta dias para cumprir os mandados em que não havia uma audiência especificada. Se não cumpríssemos nesse prazo, teríamos de pedir por escrito mais prazo para o juiz, explicando o motivo do atraso. Invariavelmente o motivo era excesso de serviço. Evidentemente, sempre o juiz dava mais prazo, porque ele não teria outra opção: ou dava mais prazo ou abria processo administrativo contra o oficial de justiça... Mas eu não gostava de pedir prazo, preferia deixar meu trabalho sempre em dia e não ter aborrecimentos.
Um dia estava com um mandado para intimar um réu de uma sentença condenatória com o prazo quase estourando. Eu já tinha ido ao endereço, mas ele não estava lá. Eu não me lembro, mas com certeza deveria ter deixado recado para ele ir me procurar no fórum, pois era o procedimento que eu adotava, para não ter de voltar várias vezes a um mesmo endereço.
Só que quem me procurou foi o advogado desse réu. Ele me disse que eu poderia ir ao seu escritório intimar o réu. Esse procedimento era totalmente inusitado, mas como o escritório era no centro, para mim seria ótimo, pois eu cumpriria facilmente o mandado que estava com o prazo vencendo. Aí topei a proposta e fui ao escritório do advogado no dia e hora combinados. Lá chegando, ele abriu o jogo:
- Esse processo correu em revelia. Você já sabe que o endereço que está no mandado existe. Preciso que você certifique que intimou meu cliente nesse endereço, pois irei usar sua certidão para fundamentar um pedido de nulidade do processo.
Explico o estratagema que ele bolou: se o réu foi encontrado no endereço do mandado, é porque morava lá. Assim, se ele não fora citado para se defender, no início do processo, naquele endereço e só agora teria recebido a sentença condenatória, o processo era nulo. Por isso era tão importante para o advogado que eu certificasse que o réu fora encontrado no endereço indicado no mandado, para que ele pudesse afirmar de forma mais bem fundamentada, em termos probatórios, que o réu morava no endereço em que deveria ter sido inicialmente citado.
Realmente, eu poderia fazer isso, pois o endereço realmente existia e eu não ficaria nem um pouco vulnerável juridicamente se certificasse que intimei o réu no endereço que estava no mandado. Quem seria prejudicado seria a “Justiça Pública”. O promotor, que não era meu amigo, também seria prejudicado, pois sua estatística ficaria levemente piorada, com uma condenação a menos e um processo declarado nulo a mais.
Eu então balancei a cabeça de forma afirmativa. Acontece que, na linguagem corporal, esse gesto pode significar “entendi o que você está me dizendo” ou “farei o que você está me pedindo”. No final das contas, eu não afirmei, nem neguei, que iria fazer o que o advogado me pediu.
Ele então pegou uma nota nova, que havia sido recentemente lançada, dobradinha. Não me lembro o valor da época, mas era a nota de valor mais alto que existia. Naquela época a inflação era alta, e o governo estava sempre a lançar notas novas, de valor mais elevado, que depois de algum tempo perderiam o valor e seriam retiradas de circulação. O advogado fez o gesto de me entregar a nota enquanto me dizia:
- Preciso pagar a usa diligência.
Nitidamente era uma tentativa de suborno: ele me daria o dinheiro em troca da elaboração da certidão que ele queria, tudo para anular o processo que culminou com uma condenação criminal.
Eu então respondi apresentando um ar ingênuo:
- Não, doutor, aqui no crime não é como no cível, o advogado não paga as diligências, nós recebemos pelo Estado.
Ele ficou meio desconcertado com minha atitude, pois não esperava que eu recusasse o dinheiro. Aproveitei a perplexidade dele e pedi para fazer a intimação do réu.
Obviamente, ele não teve outra saída que não me levar ao seu cliente, que estava na outra sala. Lá chegando, fiz a intimação e ainda pedi que o réu mostrasse seu RG, para que eu tivesse certeza que era ele mesmo.
Intimação realizada, o advogado não fez de rogado e disse:
- Não esqueça que eu preciso que você certifique que intimou o réu no endereço do mandado.
Eu simplesmente respondi:
- Entendi, doutor.
Propositalmente, em nenhum momento eu disse que iria fazer o que ele queria. Eu não recebi o dinheiro que ele me ofereceu apenas por uma questão de “extrema honestidade”. Embora eu tivesse apenas 19 ou 20 anos de idade, eu já sabia que receber dinheiro de alguém envolvia uma contrapartida: fazer o que a pessoa queria. Ou seja, receber dinheiro quase sempre significa ficar politicamente em desvantagem. Eu não tinha decidido naquele momento se iria fazer a certidão do jeito que o advogado pedira. Como eu nunca aceitava o dinheiro de advogado, não ficava vinculado a nenhuma promessa tácita ou explícita.
Evidentemente, eu não queria me indispor com qualquer advogado, mas a idéia de ajudar a plantar uma nulidade em um processo criminal não me agradava nem um pouco. Naquela época eu não tinha a exata noção do poder político das pessoas e tinha um certo receio de vir a ser injustamente prejudicado por alguém poderoso.
Pensei por um dia ou dois como fazer a certidão. Então simplesmente narrei a verdade, com uma sutil omissão: certifiquei que no dia tal fui ao endereço constante do mandado, mas que não encontrei o réu; certifiquei que em outro dia tal intimei o réu do inteiro teor da sentença, mas sem dizer o local da intimação. Desse modo, a certidão ficou dúbia.
O advogado não me procurou para reclamar a respeito da certidão que não constou o que ele queria. Mas como eu não recebi o dinheiro que ele me ofereceu, nem disse que faria a certidão do jeito que ele me pediu, não estava vinculado a nada e poderia simplesmente dizer que o ajudei de forma suficiente ao não mencionar na certidão que intimei o réu no seu escritório, razão pela qual ele deveria é estar muito agradecido e não vir me importunar.
Realmente, ele poderia até tentar usar a minha certidão desse jeito mesmo, alegando que eu teria afirmado que o réu fora intimado no endereço constante do mandado, mas seria necessário fazer uma dupla ilação: como o oficial de justiça efetuou a intimação, teria implicitamente afirmado que, na segunda diligência, o réu fora encontrado no endereço constante do mandado (embora explicitamente afirmado o oposto no tocante à primeira diligência) e, portanto, mora nesse endereço, razão pela qual o processo não poderia ter corrido à revelia porque o réu deveria ter sido inicialmente citado naquele endereço. Mas para anular um processo criminal, essa prova estava muito frágil...
Além disso, se o juiz quisesse, poderia pedir que eu complementasse a certidão, para explicitar o local em que a intimação fora realizada, já que eu afirmara que réu não fora encontrado no endereço do mandado, mas não afirmara qual o local da intimação. Como isso não foi pedido, é óbvio que o advogado concluiu que minha certidão seria imprestável para fundamentar o pedido de nulidade do processo e ainda imaginou que, se o juiz me pedisse para complementar a certidão, eu poderia dizer que a intimação fora feita no escritório do advogado, o que detonaria completamente a possibilidade de anulação do processo. É possível que o promotor e o juiz viessem a ser engabelados pelo advogado malandro que, mesmo com uma certidão capenga, conseguiu seu propósito. Mas aí o problema seria outro: o promotor e o juiz, que são agentes públicos graduados e bem pagos, devem rechaçar eventual tentativa de alegação de nulidade no processo, especialmente se essa tentativa está muito mal fundamentada.
No final das contas, não participei da malandragem, mas também não me indispus com o advogado. Se eu fosse provocado formalmente pelo promotor ou pelo juiz, poderia dizer que intimei o réu no endereço do advogado, o que seria a mais pura verdade.
Mas nada disso foi necessário. Algum tempo depois eu procurei saber o que teria acontecido. O advogado realmente tentou anular o processo, mas nada disse a respeito da minha certidão, optando por usar outros meios de provas para demonstrar que o processo seria nulo porque o réu deveria ter sido citado no endereço em que supostamente morava. Mas sem a minha certidão, essa tentativa não vingou, por falta de maiores elementos probatórios.
Um dia estava com um mandado para intimar um réu de uma sentença condenatória com o prazo quase estourando. Eu já tinha ido ao endereço, mas ele não estava lá. Eu não me lembro, mas com certeza deveria ter deixado recado para ele ir me procurar no fórum, pois era o procedimento que eu adotava, para não ter de voltar várias vezes a um mesmo endereço.
Só que quem me procurou foi o advogado desse réu. Ele me disse que eu poderia ir ao seu escritório intimar o réu. Esse procedimento era totalmente inusitado, mas como o escritório era no centro, para mim seria ótimo, pois eu cumpriria facilmente o mandado que estava com o prazo vencendo. Aí topei a proposta e fui ao escritório do advogado no dia e hora combinados. Lá chegando, ele abriu o jogo:
- Esse processo correu em revelia. Você já sabe que o endereço que está no mandado existe. Preciso que você certifique que intimou meu cliente nesse endereço, pois irei usar sua certidão para fundamentar um pedido de nulidade do processo.
Explico o estratagema que ele bolou: se o réu foi encontrado no endereço do mandado, é porque morava lá. Assim, se ele não fora citado para se defender, no início do processo, naquele endereço e só agora teria recebido a sentença condenatória, o processo era nulo. Por isso era tão importante para o advogado que eu certificasse que o réu fora encontrado no endereço indicado no mandado, para que ele pudesse afirmar de forma mais bem fundamentada, em termos probatórios, que o réu morava no endereço em que deveria ter sido inicialmente citado.
Realmente, eu poderia fazer isso, pois o endereço realmente existia e eu não ficaria nem um pouco vulnerável juridicamente se certificasse que intimei o réu no endereço que estava no mandado. Quem seria prejudicado seria a “Justiça Pública”. O promotor, que não era meu amigo, também seria prejudicado, pois sua estatística ficaria levemente piorada, com uma condenação a menos e um processo declarado nulo a mais.
Eu então balancei a cabeça de forma afirmativa. Acontece que, na linguagem corporal, esse gesto pode significar “entendi o que você está me dizendo” ou “farei o que você está me pedindo”. No final das contas, eu não afirmei, nem neguei, que iria fazer o que o advogado me pediu.
Ele então pegou uma nota nova, que havia sido recentemente lançada, dobradinha. Não me lembro o valor da época, mas era a nota de valor mais alto que existia. Naquela época a inflação era alta, e o governo estava sempre a lançar notas novas, de valor mais elevado, que depois de algum tempo perderiam o valor e seriam retiradas de circulação. O advogado fez o gesto de me entregar a nota enquanto me dizia:
- Preciso pagar a usa diligência.
Nitidamente era uma tentativa de suborno: ele me daria o dinheiro em troca da elaboração da certidão que ele queria, tudo para anular o processo que culminou com uma condenação criminal.
Eu então respondi apresentando um ar ingênuo:
- Não, doutor, aqui no crime não é como no cível, o advogado não paga as diligências, nós recebemos pelo Estado.
Ele ficou meio desconcertado com minha atitude, pois não esperava que eu recusasse o dinheiro. Aproveitei a perplexidade dele e pedi para fazer a intimação do réu.
Obviamente, ele não teve outra saída que não me levar ao seu cliente, que estava na outra sala. Lá chegando, fiz a intimação e ainda pedi que o réu mostrasse seu RG, para que eu tivesse certeza que era ele mesmo.
Intimação realizada, o advogado não fez de rogado e disse:
- Não esqueça que eu preciso que você certifique que intimou o réu no endereço do mandado.
Eu simplesmente respondi:
- Entendi, doutor.
Propositalmente, em nenhum momento eu disse que iria fazer o que ele queria. Eu não recebi o dinheiro que ele me ofereceu apenas por uma questão de “extrema honestidade”. Embora eu tivesse apenas 19 ou 20 anos de idade, eu já sabia que receber dinheiro de alguém envolvia uma contrapartida: fazer o que a pessoa queria. Ou seja, receber dinheiro quase sempre significa ficar politicamente em desvantagem. Eu não tinha decidido naquele momento se iria fazer a certidão do jeito que o advogado pedira. Como eu nunca aceitava o dinheiro de advogado, não ficava vinculado a nenhuma promessa tácita ou explícita.
Evidentemente, eu não queria me indispor com qualquer advogado, mas a idéia de ajudar a plantar uma nulidade em um processo criminal não me agradava nem um pouco. Naquela época eu não tinha a exata noção do poder político das pessoas e tinha um certo receio de vir a ser injustamente prejudicado por alguém poderoso.
Pensei por um dia ou dois como fazer a certidão. Então simplesmente narrei a verdade, com uma sutil omissão: certifiquei que no dia tal fui ao endereço constante do mandado, mas que não encontrei o réu; certifiquei que em outro dia tal intimei o réu do inteiro teor da sentença, mas sem dizer o local da intimação. Desse modo, a certidão ficou dúbia.
O advogado não me procurou para reclamar a respeito da certidão que não constou o que ele queria. Mas como eu não recebi o dinheiro que ele me ofereceu, nem disse que faria a certidão do jeito que ele me pediu, não estava vinculado a nada e poderia simplesmente dizer que o ajudei de forma suficiente ao não mencionar na certidão que intimei o réu no seu escritório, razão pela qual ele deveria é estar muito agradecido e não vir me importunar.
Realmente, ele poderia até tentar usar a minha certidão desse jeito mesmo, alegando que eu teria afirmado que o réu fora intimado no endereço constante do mandado, mas seria necessário fazer uma dupla ilação: como o oficial de justiça efetuou a intimação, teria implicitamente afirmado que, na segunda diligência, o réu fora encontrado no endereço constante do mandado (embora explicitamente afirmado o oposto no tocante à primeira diligência) e, portanto, mora nesse endereço, razão pela qual o processo não poderia ter corrido à revelia porque o réu deveria ter sido inicialmente citado naquele endereço. Mas para anular um processo criminal, essa prova estava muito frágil...
Além disso, se o juiz quisesse, poderia pedir que eu complementasse a certidão, para explicitar o local em que a intimação fora realizada, já que eu afirmara que réu não fora encontrado no endereço do mandado, mas não afirmara qual o local da intimação. Como isso não foi pedido, é óbvio que o advogado concluiu que minha certidão seria imprestável para fundamentar o pedido de nulidade do processo e ainda imaginou que, se o juiz me pedisse para complementar a certidão, eu poderia dizer que a intimação fora feita no escritório do advogado, o que detonaria completamente a possibilidade de anulação do processo. É possível que o promotor e o juiz viessem a ser engabelados pelo advogado malandro que, mesmo com uma certidão capenga, conseguiu seu propósito. Mas aí o problema seria outro: o promotor e o juiz, que são agentes públicos graduados e bem pagos, devem rechaçar eventual tentativa de alegação de nulidade no processo, especialmente se essa tentativa está muito mal fundamentada.
No final das contas, não participei da malandragem, mas também não me indispus com o advogado. Se eu fosse provocado formalmente pelo promotor ou pelo juiz, poderia dizer que intimei o réu no endereço do advogado, o que seria a mais pura verdade.
Mas nada disso foi necessário. Algum tempo depois eu procurei saber o que teria acontecido. O advogado realmente tentou anular o processo, mas nada disse a respeito da minha certidão, optando por usar outros meios de provas para demonstrar que o processo seria nulo porque o réu deveria ter sido citado no endereço em que supostamente morava. Mas sem a minha certidão, essa tentativa não vingou, por falta de maiores elementos probatórios.
sexta-feira, 7 de agosto de 2009
Capítulo XII - As delegacias de polícia. O problema da segurança pública em São Paulo
Cumprir mandados em delegacias era fácil quando a pessoa a ser intimada era um preso (obviamente ele ficava o dia inteiro lá e não saía para beber cerveja, ir à casa de um amigo, jogar futebol etc). Se o preso tivesse sido transferido para um presídio, eu simplesmente devolveria o mandado com essa observação, para que ele fosse cumprido no “rodízio” mencionado no Capítulo __. Se o preso tivesse sido transferido para outra delegacia, aí eu teria de ir para essa outra delegacia cumprir o mandado, mas isso era incomum.
Quando a intimação era para um policial civil, a coisa era mais complicada. Normalmente eles estavam cumprindo diligências fora da delegacia, ou eu chegava fora do horário de trabalho da equipe, era raro encontrar a pessoa lá.
Normalmente a intimação era para algum preso. O procedimento era me dirigir ao delegado que estivesse de plantão e pedir para falar com o carcereiro.
Em linhas muito gerais, o padrão físico da maioria das delegacias de São Paulo era assim: uma sala em que ficava o delegado de plantão, o cartório da delegacia e a sala do carcereiro próxima do pátio com as celas. Algumas delegacias tinham uma pequena cela fora do pátio (chamada de “chiqueirinho”), no qual ficava um único preso aguardando ser removido para alguma audiência ou ser transferido para outro lugar. O pátio da delegacia era pequeno, com três ou quatro celas em dois lados. O pátio ficava trancado, normalmente com um preso de confiança lá, fazendo algumas tarefas, como de limpeza.
Um desvirtuamento gravíssimo que ocorria naquela época era a superlotação das celas situadas em delegacias. Isto mesmo: centenas ou milhares de presos simplesmente cumpriam penas de prisão nas delegacias e não em presídios!
Para os presos, ficar nessas condições era um verdadeiro inferno. Mas tinha uma vantagem: a possibilidade de fuga de uma delegacia era muito maior do que em um presídio, mesmo nos de segurança mínima.
Em uma ocasião, um carcereiro me contou que os presos de uma das celas estavam cavando um túnel para escapar. Eu perguntei como eles faziam isso e ele me respondeu:
- Com uma colher comum.
Incrédulo, perguntei qual seria o destino do grande volume de terra que saía do buraco que estava sendo cavado, bem como porque eles (os policiais) não acabavam logo com essa tentativa de fuga. O carcereiro me explicou:
- Eles dão um jeito de tirar a terra de lá, normalmente por meio das visitas. Nós esperamos eles cavarem um pouco mais, pois enquanto eles estão ocupados, não dão trabalho. Mas daqui a uns dias nós vamos acabar com mais esse túnel. Nós estamos acompanhando, mas eles não sabem.
Eu fiquei imaginando a frustração que os presos deveriam sentir ao ver o túnel quase pronto ser descoberto...
Nas delegacias que não estavam situadas na periferia sempre existia um delegado de plantão. Teoricamente, toda delegacia deveria ter, durante as vinte e quatro horas diárias, uma equipe de plantão, formada por um delegado, um ...clique aqui para continuar...
Quando a intimação era para um policial civil, a coisa era mais complicada. Normalmente eles estavam cumprindo diligências fora da delegacia, ou eu chegava fora do horário de trabalho da equipe, era raro encontrar a pessoa lá.
Normalmente a intimação era para algum preso. O procedimento era me dirigir ao delegado que estivesse de plantão e pedir para falar com o carcereiro.
Em linhas muito gerais, o padrão físico da maioria das delegacias de São Paulo era assim: uma sala em que ficava o delegado de plantão, o cartório da delegacia e a sala do carcereiro próxima do pátio com as celas. Algumas delegacias tinham uma pequena cela fora do pátio (chamada de “chiqueirinho”), no qual ficava um único preso aguardando ser removido para alguma audiência ou ser transferido para outro lugar. O pátio da delegacia era pequeno, com três ou quatro celas em dois lados. O pátio ficava trancado, normalmente com um preso de confiança lá, fazendo algumas tarefas, como de limpeza.
Um desvirtuamento gravíssimo que ocorria naquela época era a superlotação das celas situadas em delegacias. Isto mesmo: centenas ou milhares de presos simplesmente cumpriam penas de prisão nas delegacias e não em presídios!
Para os presos, ficar nessas condições era um verdadeiro inferno. Mas tinha uma vantagem: a possibilidade de fuga de uma delegacia era muito maior do que em um presídio, mesmo nos de segurança mínima.
Em uma ocasião, um carcereiro me contou que os presos de uma das celas estavam cavando um túnel para escapar. Eu perguntei como eles faziam isso e ele me respondeu:
- Com uma colher comum.
Incrédulo, perguntei qual seria o destino do grande volume de terra que saía do buraco que estava sendo cavado, bem como porque eles (os policiais) não acabavam logo com essa tentativa de fuga. O carcereiro me explicou:
- Eles dão um jeito de tirar a terra de lá, normalmente por meio das visitas. Nós esperamos eles cavarem um pouco mais, pois enquanto eles estão ocupados, não dão trabalho. Mas daqui a uns dias nós vamos acabar com mais esse túnel. Nós estamos acompanhando, mas eles não sabem.
Eu fiquei imaginando a frustração que os presos deveriam sentir ao ver o túnel quase pronto ser descoberto...
Nas delegacias que não estavam situadas na periferia sempre existia um delegado de plantão. Teoricamente, toda delegacia deveria ter, durante as vinte e quatro horas diárias, uma equipe de plantão, formada por um delegado, um ...clique aqui para continuar...
Marcadores:
criminalidade,
delegacia,
oficial de justiça,
polícia,
políticos,
presos
sábado, 1 de agosto de 2009
Políticos, empresários e prostitutas (continuação)
... Continuação do Capítulo 14 - Políticos, empresários e prostitutas
O advogado fez questão de me dizer que o réu não era um Deputado, mas sim um ex-Deputado, e me perguntou se eu gostaria de passar no escritório dele para tomar um café. Como eu imaginei que ele iria me oferecer dinheiro pelo cumprimento rápido do mandado, respondi que estava com muito serviço (o que era verdade), mas que em uma outra ocasião iria passar lá para conhecê-lo. Evidentemente, foi um jeito educado de dizer que eu não estava interessado em propina.
Em um outro mandado decorrente de “Pedido de Explicações”, o querelado era uma pessoa que trabalhava na mesma empresa que meu pai. Era uma história de alguém que, supostamente, teria “levado bola”. Na gíria da época, “levar bola” significava receber dinheiro para fazer algo ilícito e no “Pedido de Explicação” constava exatamente essa expressão, bem como o nome da empresa que meu pai trabalhava. Como eu nunca tinha ouvido falar nos nomes do querelante e do querelado, fui perguntar ao meu pai se ele conhecia os caras. Ele me respondeu que sim e ficou muito surpreso com a história. Ele me disse assim:
- Puxa, o Fulano “levando bola”...
Na verdade, casos de corrupção em empresas privadas são muito mais comuns do que as pessoas pensam. Há quem diga que, em uma certa ocasião, um estagiário clique aqui para continuar...
O advogado fez questão de me dizer que o réu não era um Deputado, mas sim um ex-Deputado, e me perguntou se eu gostaria de passar no escritório dele para tomar um café. Como eu imaginei que ele iria me oferecer dinheiro pelo cumprimento rápido do mandado, respondi que estava com muito serviço (o que era verdade), mas que em uma outra ocasião iria passar lá para conhecê-lo. Evidentemente, foi um jeito educado de dizer que eu não estava interessado em propina.
Em um outro mandado decorrente de “Pedido de Explicações”, o querelado era uma pessoa que trabalhava na mesma empresa que meu pai. Era uma história de alguém que, supostamente, teria “levado bola”. Na gíria da época, “levar bola” significava receber dinheiro para fazer algo ilícito e no “Pedido de Explicação” constava exatamente essa expressão, bem como o nome da empresa que meu pai trabalhava. Como eu nunca tinha ouvido falar nos nomes do querelante e do querelado, fui perguntar ao meu pai se ele conhecia os caras. Ele me respondeu que sim e ficou muito surpreso com a história. Ele me disse assim:
- Puxa, o Fulano “levando bola”...
Na verdade, casos de corrupção em empresas privadas são muito mais comuns do que as pessoas pensam. Há quem diga que, em uma certa ocasião, um estagiário clique aqui para continuar...
Marcadores:
boate,
luxo,
oficial de justiça,
políticos,
prostitutas,
são paulo
quarta-feira, 22 de julho de 2009
Capítulo 14 - Políticos, empresários e prostitutas
A região de São Paulo que eu cumpria mandados abrangia todas as classes sociais, desde a favela mais pobre à mansão mais rica. Eu ia cumprir diligências nas várias favelas situadas nos extremos da zona sul de São Paulo, nos cortiços do centro, mas também ia às mansões do Jardim Europa ou do Morumbi.
O contato com pessoas de classe alta era freqüente. Em uma época em que carro importado era algo somente acessível às classes altas (não haviam carros coreanos no mercado e apenas importados de alto luxo eram vendidos no Brasil a uns poucos privilegiados), eu fui cumprir um mandado quando me deparei com uma linda casa, com dois carros importados visíveis na garagem.
A empregada doméstica atendeu à porta. Era uma mocinha novinha, meio feinha, mas toda sorridente. Eu perguntei pela pessoa que deveria ser intimada e ela me respondeu toda feliz:
- Ele está para chegar. Ele foi a Brasília, teve uma audiência com o Presidente Sarney, mas já ligou do aeroporto dizendo que está a caminho. Você não quer entrar e esperar ele?
Eu achei estranho a empregada doméstica convidar para entrar um cara que ela nunca tinha visto na vista. Como eu tinha outro mandado para cumprir em um endereço próximo, disse que voltaria dentro de uma hora.
E voltei mesmo. Atendeu a porta a mesma mocinha e disse que o patrão já tinha chegado. Ela então me levou em direção a uma porta situada na lateral da casa e eu pude ver que, além dos dois carros importados estacionados na frente da casa, havia mais outros quatro carros no fundo. Um deles ela uma Porsche, achei que era uma 911, mas não tive certeza.
Eu fiquei esperando em uma salinha, semelhante às salas de recepção de grandes escritórios de advocacia, destinadas aos clientes top. A sala estava decorada com magníficos quadros de barcos e era em estilo inglês antigo. Em suma, era um luxo.
Em alguns instantes, chegou a pessoa que eu deveria intimar. Era um coroa bronzeado, que na época eu achei que deveria ter uns quarenta anos, mas acho que deveria ter uns cinqüenta. Eu expliquei para ele do que se tratava, mas ele já sabia de tudo. Embora ele tivesse acabado de chegar de viagem, não parecia nem um pouco cansado.
Eu perguntei como estava o trânsito de Guarulhos para o centro, só para puxar papo. Ele então me disse, sem tentar esconder a vaidade, que tinha vindo em um avião particular e pousara em Congonhas. Falou também da audiência com o Presidente Sarney, mas não entrou em detalhes a respeito do conteúdo da audiência, disse apenas que era relativo a um problema relacionado com tributação. O cara, sem dúvida alguma, era top. Nenhum Zé Mané iria ter acesso ao Presidente da República. Como eu tinha visto a casa do cara e os carros do cara, concluí que a história era verdadeira.
Ele então me perguntou se clique aqui para continuar...
O contato com pessoas de classe alta era freqüente. Em uma época em que carro importado era algo somente acessível às classes altas (não haviam carros coreanos no mercado e apenas importados de alto luxo eram vendidos no Brasil a uns poucos privilegiados), eu fui cumprir um mandado quando me deparei com uma linda casa, com dois carros importados visíveis na garagem.
A empregada doméstica atendeu à porta. Era uma mocinha novinha, meio feinha, mas toda sorridente. Eu perguntei pela pessoa que deveria ser intimada e ela me respondeu toda feliz:
- Ele está para chegar. Ele foi a Brasília, teve uma audiência com o Presidente Sarney, mas já ligou do aeroporto dizendo que está a caminho. Você não quer entrar e esperar ele?
Eu achei estranho a empregada doméstica convidar para entrar um cara que ela nunca tinha visto na vista. Como eu tinha outro mandado para cumprir em um endereço próximo, disse que voltaria dentro de uma hora.
E voltei mesmo. Atendeu a porta a mesma mocinha e disse que o patrão já tinha chegado. Ela então me levou em direção a uma porta situada na lateral da casa e eu pude ver que, além dos dois carros importados estacionados na frente da casa, havia mais outros quatro carros no fundo. Um deles ela uma Porsche, achei que era uma 911, mas não tive certeza.
Eu fiquei esperando em uma salinha, semelhante às salas de recepção de grandes escritórios de advocacia, destinadas aos clientes top. A sala estava decorada com magníficos quadros de barcos e era em estilo inglês antigo. Em suma, era um luxo.
Em alguns instantes, chegou a pessoa que eu deveria intimar. Era um coroa bronzeado, que na época eu achei que deveria ter uns quarenta anos, mas acho que deveria ter uns cinqüenta. Eu expliquei para ele do que se tratava, mas ele já sabia de tudo. Embora ele tivesse acabado de chegar de viagem, não parecia nem um pouco cansado.
Eu perguntei como estava o trânsito de Guarulhos para o centro, só para puxar papo. Ele então me disse, sem tentar esconder a vaidade, que tinha vindo em um avião particular e pousara em Congonhas. Falou também da audiência com o Presidente Sarney, mas não entrou em detalhes a respeito do conteúdo da audiência, disse apenas que era relativo a um problema relacionado com tributação. O cara, sem dúvida alguma, era top. Nenhum Zé Mané iria ter acesso ao Presidente da República. Como eu tinha visto a casa do cara e os carros do cara, concluí que a história era verdadeira.
Ele então me perguntou se clique aqui para continuar...
Marcadores:
carro,
empresários,
garotas,
gravata,
mandado,
oficial de justiça,
políticos
domingo, 19 de julho de 2009
O Carandiru e outros presídios (continuação)
... Continuação de O Carandiru e outros presídios.
Em um dado momento, nós estávamos intimando um grupo de “justiceiros”. O funcionário, que estava tranqüilo demais simplesmente porque estava realizando seu trabalho diário, soltou a seguinte frase em voz alta o suficiente para ser ouvida fora da sala:
- Tá precisando de uns “justiceiros” lá no meu bairro, porque tem muito bandido.
Justamente nessa hora estava chegando presos de um outro pavilhão, que perceberam na hora que nós estávamos com “justiceiros” na sala.
O funcionário que estava trazendo esses presos (que não estavam algemados, porque ninguém fica assim no presídio) percebeu que poderia dar merda e brecou imediatamente a entrada dos presos na sala.
Eu vi um justiceiro ficar branco de medo. Parecia que o cara iria desmaiar. O funcionário que estava na sala comigo se levantou da cadeira rapidamente e foi até a porta. Disse em tom imperativo:
- Ninguém entra nem sai da sala!
Os presos que estavam do lado de fora ficaram se olhando, como quem pergunta o que deveria ser feito naquele momento. Com exceção dos “justiceiros” (óbvio), o mais amedrontado era eu, porque eu já tinha lido alguma vez que na hora que dá merda no presídio, a primeira coisa que é feita pelos presos é obrigar o refém a trocar de calça com ele. Depois disso tudo pode acontecer.
Nós estávamos em grande desvantagem numérica: eu e dois funcionários. Do lado de fora, além dos presos trazidos pelo funcionário que sabiam que a sala estava com um grupo de “justiceiros”, havia um número imenso de outros presos trabalhando. Se desse merda, eu, que não era conhecido como funcionário no presídio, seria confundido com um preso pela Polícia Militar, caso algum preso tomasse a minha calça.
Um dos presos do grupo que estava do lado de fora deu um passo à frente, em uma expressão desafiadora, em direção à porta da sala. O funcionário que estava comigo gritou com ele:
- Já mandei voltar, porra!
Nessa hora outro preso puxou o preso que tinha dado um passo à frente pelo ombro. Eu ouvi alguém gritar algo como “pára que vai dar merda”, não sei se foi o funcionário ou outro preso.
Nisso chegaram não sei de onde outras pessoas sem calça caqui e mandaram suspender temporariamente as intimações. Os presos do grupo que estava do lado de fora foram levados para outro local e somente iriam ser intimados ao final. Os “justiceiros” foram “escoltados” por alguns agentes para fora da sala, em direção às suas celas.
Nessa altura eu estava, digamos, um pouco nervoso com o que tinha presenciado. Olhei para o funcionário. Ele estava calmo e fez um comentário absolutamente trivial. Na hora eu fiquei na dúvida se ele estava fingindo ou se estava realmente calmo, como se a situação em nenhum momento tivesse saído do controle. Eu então perguntei:
- É todo dia assim?
Ele me respondeu, quase dando risada, percebendo meu humor alterado:
- É que não pode misturar “justiceiros” com os outros presos, pode dar merda.
Eu fiz cara de quem diz “isso é óbvio” e insisti na pergunta. Ele então me disse:
- Oficial, isso que você viu não foi nada!..
Foi aí que ele me explicou a história dos “caceteiros”, de que quando vai ter rebelião os “bons funcionários” ficam sabendo antes etc. Só nesse momento eu percebi que, realmente, não havia a menor possibilidade de eu virar refém no Carandiru, simplesmente porque naquele dia as coisas estavam tranqüilas e, sendo assim, os presos obedecem todas as ordens dos funcionários.
Ele me contou mais algumas coisas a respeito do Carandiru e recomeçamos as intimações. Foi nesse dia que vi um preso que não era pobre: era um advogado que tinha sido condenado por falsificação de escritura pública, relativo a um caso que eu tinha feito uma intimação em um belo apartamento situado no centro de São Paulo, próximo à Praça da República. Com exceção desse preso, todos os demais presos que vi naquele dia eram pessoas pobres. Fiquei com impressão de que, no Brasil, rico nunca vai para a cadeia. Na época, comentei essa impressão com um colega oficial de justiça e ele me disse, com uma certa amargura, que pensava a mesma coisa. Recentemente, com o “episódio Daniel Dantas”, lembrei-me disso.
Depois de fazer as intimações no Carandiru, fui para a Penitenciária do Estado. Fiz algumas intimações em uma sala grande, na qual estava um policial civil ouvindo umas histórias de um preso simpático, que me pareceram inverossímeis. O policial, porém, parecia estar se divertindo e acreditando nessas histórias. Lá foi bem tranqüilo e não houve qualquer incidente.
Fui até a enfermaria intimar um único preso. Essa ala da Penitenciária era formada por um corredor com celas em ambos os lados. Essas celas tinham duas camas cada uma e estavam com as portas abertas, simplesmente porque era a ala dos presos com AIDS, já em estado terminal.
Um funcionário estúpido, dando risada, entrou em uma das celas e retirou o cobertor de um preso que estava deitado em uma das camas, para que eu pudesse ver um preso aidético. O preso estava nu, com as pernas totalmente pretas, como se estivessem queimadas (imagine uma pessoa carbonizada: era exatamente o que vi).
Foi a cena mais chocante que presenciei como oficial de justiça. Não apenas a situação de um ser humano em completa desintegração física, consumido pela AIDS, como o ato do funcionário que parecia estar fazendo algo divertido. Eu estava vendo de perto o lado podre do mundo.
Cheguei até a cela em que eu deveria intimar um preso. Ele nada perguntou, somente assinou o mandado. Um outro funcionário comentou comigo que achava uma tolice correr um processo contra alguém nessas condições. Eu concordei, pois certamente o réu iria morrer antes do fim do processo.
Nesse dia fui para um outro presídio, que não me lembro o nome. A parte interessante desse outro presídio foi ter entrado junto com o motorista, que fez o papel do funcionário experiente do Carandiru: ele (e não eu) fez todas as intimações e orientou cada preso a recorrer ou a não recorrer, dependendo do caso. Novamente eu fiquei só do lado do sujeito, prestando atenção para aprender alguma coisa. O motorista me contou que há muito tempo ele fazia isso, que já estava acostumado.
Continua...
Em um dado momento, nós estávamos intimando um grupo de “justiceiros”. O funcionário, que estava tranqüilo demais simplesmente porque estava realizando seu trabalho diário, soltou a seguinte frase em voz alta o suficiente para ser ouvida fora da sala:
- Tá precisando de uns “justiceiros” lá no meu bairro, porque tem muito bandido.
Justamente nessa hora estava chegando presos de um outro pavilhão, que perceberam na hora que nós estávamos com “justiceiros” na sala.
O funcionário que estava trazendo esses presos (que não estavam algemados, porque ninguém fica assim no presídio) percebeu que poderia dar merda e brecou imediatamente a entrada dos presos na sala.
Eu vi um justiceiro ficar branco de medo. Parecia que o cara iria desmaiar. O funcionário que estava na sala comigo se levantou da cadeira rapidamente e foi até a porta. Disse em tom imperativo:
- Ninguém entra nem sai da sala!
Os presos que estavam do lado de fora ficaram se olhando, como quem pergunta o que deveria ser feito naquele momento. Com exceção dos “justiceiros” (óbvio), o mais amedrontado era eu, porque eu já tinha lido alguma vez que na hora que dá merda no presídio, a primeira coisa que é feita pelos presos é obrigar o refém a trocar de calça com ele. Depois disso tudo pode acontecer.
Nós estávamos em grande desvantagem numérica: eu e dois funcionários. Do lado de fora, além dos presos trazidos pelo funcionário que sabiam que a sala estava com um grupo de “justiceiros”, havia um número imenso de outros presos trabalhando. Se desse merda, eu, que não era conhecido como funcionário no presídio, seria confundido com um preso pela Polícia Militar, caso algum preso tomasse a minha calça.
Um dos presos do grupo que estava do lado de fora deu um passo à frente, em uma expressão desafiadora, em direção à porta da sala. O funcionário que estava comigo gritou com ele:
- Já mandei voltar, porra!
Nessa hora outro preso puxou o preso que tinha dado um passo à frente pelo ombro. Eu ouvi alguém gritar algo como “pára que vai dar merda”, não sei se foi o funcionário ou outro preso.
Nisso chegaram não sei de onde outras pessoas sem calça caqui e mandaram suspender temporariamente as intimações. Os presos do grupo que estava do lado de fora foram levados para outro local e somente iriam ser intimados ao final. Os “justiceiros” foram “escoltados” por alguns agentes para fora da sala, em direção às suas celas.
Nessa altura eu estava, digamos, um pouco nervoso com o que tinha presenciado. Olhei para o funcionário. Ele estava calmo e fez um comentário absolutamente trivial. Na hora eu fiquei na dúvida se ele estava fingindo ou se estava realmente calmo, como se a situação em nenhum momento tivesse saído do controle. Eu então perguntei:
- É todo dia assim?
Ele me respondeu, quase dando risada, percebendo meu humor alterado:
- É que não pode misturar “justiceiros” com os outros presos, pode dar merda.
Eu fiz cara de quem diz “isso é óbvio” e insisti na pergunta. Ele então me disse:
- Oficial, isso que você viu não foi nada!..
Foi aí que ele me explicou a história dos “caceteiros”, de que quando vai ter rebelião os “bons funcionários” ficam sabendo antes etc. Só nesse momento eu percebi que, realmente, não havia a menor possibilidade de eu virar refém no Carandiru, simplesmente porque naquele dia as coisas estavam tranqüilas e, sendo assim, os presos obedecem todas as ordens dos funcionários.
Ele me contou mais algumas coisas a respeito do Carandiru e recomeçamos as intimações. Foi nesse dia que vi um preso que não era pobre: era um advogado que tinha sido condenado por falsificação de escritura pública, relativo a um caso que eu tinha feito uma intimação em um belo apartamento situado no centro de São Paulo, próximo à Praça da República. Com exceção desse preso, todos os demais presos que vi naquele dia eram pessoas pobres. Fiquei com impressão de que, no Brasil, rico nunca vai para a cadeia. Na época, comentei essa impressão com um colega oficial de justiça e ele me disse, com uma certa amargura, que pensava a mesma coisa. Recentemente, com o “episódio Daniel Dantas”, lembrei-me disso.
Depois de fazer as intimações no Carandiru, fui para a Penitenciária do Estado. Fiz algumas intimações em uma sala grande, na qual estava um policial civil ouvindo umas histórias de um preso simpático, que me pareceram inverossímeis. O policial, porém, parecia estar se divertindo e acreditando nessas histórias. Lá foi bem tranqüilo e não houve qualquer incidente.
Fui até a enfermaria intimar um único preso. Essa ala da Penitenciária era formada por um corredor com celas em ambos os lados. Essas celas tinham duas camas cada uma e estavam com as portas abertas, simplesmente porque era a ala dos presos com AIDS, já em estado terminal.
Um funcionário estúpido, dando risada, entrou em uma das celas e retirou o cobertor de um preso que estava deitado em uma das camas, para que eu pudesse ver um preso aidético. O preso estava nu, com as pernas totalmente pretas, como se estivessem queimadas (imagine uma pessoa carbonizada: era exatamente o que vi).
Foi a cena mais chocante que presenciei como oficial de justiça. Não apenas a situação de um ser humano em completa desintegração física, consumido pela AIDS, como o ato do funcionário que parecia estar fazendo algo divertido. Eu estava vendo de perto o lado podre do mundo.
Cheguei até a cela em que eu deveria intimar um preso. Ele nada perguntou, somente assinou o mandado. Um outro funcionário comentou comigo que achava uma tolice correr um processo contra alguém nessas condições. Eu concordei, pois certamente o réu iria morrer antes do fim do processo.
Nesse dia fui para um outro presídio, que não me lembro o nome. A parte interessante desse outro presídio foi ter entrado junto com o motorista, que fez o papel do funcionário experiente do Carandiru: ele (e não eu) fez todas as intimações e orientou cada preso a recorrer ou a não recorrer, dependendo do caso. Novamente eu fiquei só do lado do sujeito, prestando atenção para aprender alguma coisa. O motorista me contou que há muito tempo ele fazia isso, que já estava acostumado.
Continua...
Marcadores:
AIDS,
carandiru,
justiceiros,
oficial de justiça,
penitenciária,
presídio
sábado, 11 de julho de 2009
Capítulo 21 - Os desafios seguintes.
Depois da viagem para a Europa, terminou a parte “a liberdade que o dinheiro proporciona” (Capítulo __). Depois de dois meses gastando dinheiro no velho mundo, eu estava quase a zero em termos de grana. Pouco tempo depois assumi o cargo de escrevente no 20º Ofício Cível, no Fórum João Mendes, para o espanto das pessoas que não entendiam como alguém poderia deixar de ser Oficial de Justiça para ser escrevente. Mas, além de estar com pouco dinheiro, eu queria aprender processo civil.
E realmente aprendi muito na prática. Era muito bom, porque eu estava tendo na Faculdade a disciplina Teoria Geral do Processo, com os excelentes professores Vicente Greco Filho e Antônio Cláudio da Costa Machado, e vendo processo civil na prática durante o dia todo. Isso meu deu uma bela formação. Na verdade, o forte da São Francisco era direito processual. Nesse campo, estávamos mais avançados até que os europeus. Não é para menos: em um país com forte tradição contenciosa é natural que seja assim.
Fiquei uns cinco ou seis meses como escrevente do 20º Ofício Cível do Foro Central. Tinha conseguido poupar um dinheirinho, suficiente para me manter sem trabalhar durante algum tempo. Cheguei a fazer estágio em duas empresas e passei nos concursos de auxiliar judiciário (atualmente se chama “técnico judiciário”) da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal. Fui convocado em ambos. Assumi primeiro o da Justiça do Trabalho, mas fiquei pouquíssimo tempo. A rotinha era assim: ganhava a experiência decorrente do trabalho, gastava bem menos do recebia de salário e ficava um tempinho sem trabalhar. O último cargo que assumi antes de formado foi no Gabinete de um Juiz do Tribunal Regional Federal da 3ª. Região, que na época ficava ao lado da Faculdade. Foi relativamente tranqüilo trabalhar lá.
No quinto ano da Faculdade eu estudei bem mais do que nos quatro anos anteriores. Eu simplesmente morria de medo de não passar em alguma matéria e não me formar. Durante muitos anos, tive um pesadelo: teria faltado uma matéria e eu não tinha me formado. Comentei isso com algumas pessoas, que também passaram pela experiência de ter esse sonho doido, decorrente, óbvio, do medo que nós sentíamos de não nos formar no quinto ano de faculdade.
Para quem tinha papai rico, não se formar no quinto ano não seria problema. Mas para quem estava precisando desesperadamente ganhar a vida, concluir o curso e passar na OAB era uma necessidade imperiosa. Era, sem dúvida, a coisa mais importante no ano. Por isso praticamente não tive vida acadêmica na Faculdade: eu apenas trabalhava, assistia às aulas (eu tinha caderno e anotava), estudava em casa e saía com a namorada. Mais nada.
Não fui na festa de formatura, clique aqui para continuar...
E realmente aprendi muito na prática. Era muito bom, porque eu estava tendo na Faculdade a disciplina Teoria Geral do Processo, com os excelentes professores Vicente Greco Filho e Antônio Cláudio da Costa Machado, e vendo processo civil na prática durante o dia todo. Isso meu deu uma bela formação. Na verdade, o forte da São Francisco era direito processual. Nesse campo, estávamos mais avançados até que os europeus. Não é para menos: em um país com forte tradição contenciosa é natural que seja assim.
Fiquei uns cinco ou seis meses como escrevente do 20º Ofício Cível do Foro Central. Tinha conseguido poupar um dinheirinho, suficiente para me manter sem trabalhar durante algum tempo. Cheguei a fazer estágio em duas empresas e passei nos concursos de auxiliar judiciário (atualmente se chama “técnico judiciário”) da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal. Fui convocado em ambos. Assumi primeiro o da Justiça do Trabalho, mas fiquei pouquíssimo tempo. A rotinha era assim: ganhava a experiência decorrente do trabalho, gastava bem menos do recebia de salário e ficava um tempinho sem trabalhar. O último cargo que assumi antes de formado foi no Gabinete de um Juiz do Tribunal Regional Federal da 3ª. Região, que na época ficava ao lado da Faculdade. Foi relativamente tranqüilo trabalhar lá.
No quinto ano da Faculdade eu estudei bem mais do que nos quatro anos anteriores. Eu simplesmente morria de medo de não passar em alguma matéria e não me formar. Durante muitos anos, tive um pesadelo: teria faltado uma matéria e eu não tinha me formado. Comentei isso com algumas pessoas, que também passaram pela experiência de ter esse sonho doido, decorrente, óbvio, do medo que nós sentíamos de não nos formar no quinto ano de faculdade.
Para quem tinha papai rico, não se formar no quinto ano não seria problema. Mas para quem estava precisando desesperadamente ganhar a vida, concluir o curso e passar na OAB era uma necessidade imperiosa. Era, sem dúvida, a coisa mais importante no ano. Por isso praticamente não tive vida acadêmica na Faculdade: eu apenas trabalhava, assistia às aulas (eu tinha caderno e anotava), estudava em casa e saía com a namorada. Mais nada.
Não fui na festa de formatura, clique aqui para continuar...
sábado, 4 de julho de 2009
Capítulo 2 - O concurso público: de filhinho de papai (adolescência) a Oficial de Justiça (fase adulta).
Eu nunca me considerei um filhinho de papai ou um playboy. Mas eu morava na região da Paulista, tinha feito todos os estudos em escola particular e nunca tinha trabalhado. Como se dizia na época, eu “trabalhava” na VASP – Vagabundos Anônimos Sustentados pelo Pai (VASP era uma companhia de aviação pertencente ao Estado de São Paulo que foi “privatizada” e faliu algum tempo depois).
Para alguém que fosse pobre, para alguém que morava na Zona Leste ou na periferia de São Paulo, eu simplesmente era um playboy ou burguesinho em razão de ser de classe média ou em razão do lugar da cidade em que vivia.
O fato é que eu estava longe de ser um desses adolescentes enturmados, com uma galera grande, que fazem altas farras e têm grana para gastar. Meu pai sempre deixava claro que eu teria que me virar para um dia ter um emprego decente. Não faltava nada na minha casa, mas dinheiro para o lazer era algo muito limitado. Além disso, o fato de estar há pouco tempo em São Paulo ainda me deixava deslocado. Eu até saía para alguma balada de vez em quando, tinha alguns amigos, mas nenhum deles também poderia ser enquadrado com “filhinho de papai” ou playboy. Eu não achava que a minha vida era boa. Mas tudo isso era uma questão de ponto de vista: algumas pessoas poderão achar que minha vida na época era fácil, tranqüila e feliz, com um lar estruturado e com pais que foram determinantes para minha formação moral e profissional.
Seja como for, eu achava que na Faculdade as coisas iria melhorar, o que era uma coisa motivadora. E eu queria estudar na USP. Para mim, era ponto de honra estudar na Faculdade de Direito do Largo São Francisco (USP), não só porque era a melhor Faculdade de Direito do país (mais tarde voltarei a esse ponto, no Capítulo __), mas sobretudo porque era grátis. Pagar faculdade era algo que, definitivamente, não estava nos meus planos. Ao contrário do que todo mundo fazia, em 1988 eu me inscrevi apenas no vestibular para a USP (realizado pela FUVEST) e em nenhum outro. Seria USP ou nada. Morar em São Paulo e não estudar na USP era algo que para mim estava fora de cogitação: para mim, simplesmente não fazia sentido viver em uma cidade como São Paulo e não estudar na USP. Eu não gostava de São Paulo, mas, se morava lá, tinha de extrair algo de bom. E isso se traduzia em estudar na USP. Era a lógica que eu tinha na época.
Só que eu bombei (no vocabulário da época, bombar significava ser reprovado) no vestibular. Ironicamente, minha reprovação decorreu de uma nota ruim em redação. Foi um duro golpe, especialmente porque eu sempre ia bem em redação!
Logo depois de ter sido reprovado no vestibular e antes de ter aberto o concurso para Oficial de Justiça, eu tentei arrumar emprego em um banco e em um supermercado. Em ambos fui sumariamente descartado (por coincidência, hoje sou correntista desse banco e, quando oficial de justiça, levei uma sentença condenatória em razão de venda produto estragado para o gerente do supermercado).
Eu estava em casa, sem saber o que fazer, com o astral muito baixo. Hoje sei que, naquela época, eu estava próximo de uma depressão.
Aí abriu o concurso de Oficial de Justiça da Justiça Estadual, que só exigia o segundo grau. Eu comprei uma apostila que era composta basicamente das leis que cairiam no referido concurso (naquele tempo não existia internet) e de algumas regras gramaticais. Comecei a estudar, de modo a me familiarizar com os termos legais e compreender o sentido de cada artigo de lei. Foi um estudo assistemático, um singelo processo de acumulação de conteúdo sem qualquer base teórica. Pela primeira vez na minha vida, eu estudei a sério: ficava de manhã, de tarde e de noite decorando a apostila que eu tinha comprado na banca de jornal.
Tenho certeza absoluta que só estudei daquele jeito porque eu estava achando minha vida uma merda, porque eu estava me achando um bosta e a esperança que eu tinha era passar no concurso de Oficial de Justiça. Por isso costumo dizer que minha carreira começou no dia em que eu não passei no vestibular: foi em razão da minha reprovação no vestibular que eu fui estudar para o concurso de Oficial de Justiça.
Além disso, como quase todo menino dessa idade, eu não sabia exatamente que faculdade queria ou deveria cursar: o estudo e eventual trabalho como oficial de justiça iriam me possibilitar saber se a escolha de cursar direito era uma boa decisão.
Eu até gostei de estudar leis, mas um dia iria descobrir que a teoria do Direito é muito mais interessante. Estudo da lei seca, para quem nunca estudou direito, pode ser muito difícil. Eu comprei um dicionário jurídico, mas não ajudou muito. Por incrível que pareça, o que me fez compreender o significado de vários termos legais foi o dicionário comum. Uma amiga da minha mãe, que era advogada, também me ajudou nessa parte.
Felizmente, só foi divulgada a relação candidato por vaga em data próxima à da prova: como eram 330 candidatos por vaga, e eu teria desistido de estudar para esse concurso e optaria por estudar para o vestibular que, embora distante, me pareceria mais viável.
Mas o fato é que eu não desisti de estudar para o concurso de Oficial de Justiça. O dia da prova foi terrível: eu cheguei à escola em que deveria fazer a prova, vi um monte de gente, e calculei que nas outras escolas estava acontecendo o mesmo. Fiquei pensado porque eu passaria no concurso, se tinham tantos outros candidatos disputando as vagas... Para piorar, fui o primeiro da sala a terminar a prova, o que me deu a impressão de que eu tinha ido muito mal. Fui para casa com uma sensação de derrota, achando que mais uma vez eu iria perder o jogo.
Eu me lembro exatamente do dia em que saiu o resultado do concurso para Oficial de Justiça: no dia divulgado, eu fui para a porta do edifício em que funcionava a parte administrativa da Justiça Estadual, situado na Rua da Consolação, aguardar que o resultado fosse afixado na parte de fora do prédio. Lá estavam mais uns vinte ou trinta candidatos, todos ansiosos, e correu um boato que o número de vagas tinha aumentado de cem para mil. Nesse dia eu estava muito esperançoso, achando que tinha chances de ter passado.
Eu pulei (literalmente) de alegria quando vi meu nome na lista dos aprovados, entre os cem primeiros colocados. Voltei para casa, dei a notícia para minha mãe. Se tinha uma coisa que eu gostava era deixar minha mãe feliz. E meu pai ficaria com orgulho de mim.
Pouco tempo depois eu estaria trabalhando como oficial de justiça da 14ª. Vara Criminal da Comarca da Capital do Estado de São Paulo. E, no mesmo ano, fui aprovado no vestibular da Faculdade de Direito da USP (em 19º lugar em mais de dez mil candidatos). E mais: com nota dez em redação! Fiquei com a alma lavada.
Também me lembro exatamente do momento em que vi o resultado do vestibular: era um fim de tarde, eu estava na Praça da Sé, tinha cumprido uns mandados no centro e comprei uma dessas edições especiais de jornal que trazia o resultado do vestibular. Em pé, no meio do barulho da multidão, procurei e achei meu nome na lista dos aprovados para o curso de Direito. Olhei de novo, para ter certeza de que era meu nome mesmo. Eu não podia acreditar que, em menos de um ano, minha vida tinha virado completamente.
Voltei para casa e minha mãe já tinha visto o resultado e estava radiante. Fui comemorar com meus pais no Terraço Itália, um ótimo restaurante situado na parte de cima do Edifício Itália, um local onde é possível ver uma grande parte da cidade de São Paulo. Eu comi um prato à base de carne de porco nesse dia. O Terraço Itália até hoje é um lugar especial para mim.
Mas nem tudo eram ou seriam flores. O trabalho como Oficial de Justiça não era maravilhoso. Era duro, difícil. Ter contato diário com a pobreza, com a miséria, com pessoas relacionadas com crimes, não era nem um pouco agradável. Foi por causa do trabalho que eu deixei de ser adolescente e passei à fase adulta. Assim, minha adolescência terminou a fórceps.
Para alguém que fosse pobre, para alguém que morava na Zona Leste ou na periferia de São Paulo, eu simplesmente era um playboy ou burguesinho em razão de ser de classe média ou em razão do lugar da cidade em que vivia.
O fato é que eu estava longe de ser um desses adolescentes enturmados, com uma galera grande, que fazem altas farras e têm grana para gastar. Meu pai sempre deixava claro que eu teria que me virar para um dia ter um emprego decente. Não faltava nada na minha casa, mas dinheiro para o lazer era algo muito limitado. Além disso, o fato de estar há pouco tempo em São Paulo ainda me deixava deslocado. Eu até saía para alguma balada de vez em quando, tinha alguns amigos, mas nenhum deles também poderia ser enquadrado com “filhinho de papai” ou playboy. Eu não achava que a minha vida era boa. Mas tudo isso era uma questão de ponto de vista: algumas pessoas poderão achar que minha vida na época era fácil, tranqüila e feliz, com um lar estruturado e com pais que foram determinantes para minha formação moral e profissional.
Seja como for, eu achava que na Faculdade as coisas iria melhorar, o que era uma coisa motivadora. E eu queria estudar na USP. Para mim, era ponto de honra estudar na Faculdade de Direito do Largo São Francisco (USP), não só porque era a melhor Faculdade de Direito do país (mais tarde voltarei a esse ponto, no Capítulo __), mas sobretudo porque era grátis. Pagar faculdade era algo que, definitivamente, não estava nos meus planos. Ao contrário do que todo mundo fazia, em 1988 eu me inscrevi apenas no vestibular para a USP (realizado pela FUVEST) e em nenhum outro. Seria USP ou nada. Morar em São Paulo e não estudar na USP era algo que para mim estava fora de cogitação: para mim, simplesmente não fazia sentido viver em uma cidade como São Paulo e não estudar na USP. Eu não gostava de São Paulo, mas, se morava lá, tinha de extrair algo de bom. E isso se traduzia em estudar na USP. Era a lógica que eu tinha na época.
Só que eu bombei (no vocabulário da época, bombar significava ser reprovado) no vestibular. Ironicamente, minha reprovação decorreu de uma nota ruim em redação. Foi um duro golpe, especialmente porque eu sempre ia bem em redação!
Logo depois de ter sido reprovado no vestibular e antes de ter aberto o concurso para Oficial de Justiça, eu tentei arrumar emprego em um banco e em um supermercado. Em ambos fui sumariamente descartado (por coincidência, hoje sou correntista desse banco e, quando oficial de justiça, levei uma sentença condenatória em razão de venda produto estragado para o gerente do supermercado).
Eu estava em casa, sem saber o que fazer, com o astral muito baixo. Hoje sei que, naquela época, eu estava próximo de uma depressão.
Aí abriu o concurso de Oficial de Justiça da Justiça Estadual, que só exigia o segundo grau. Eu comprei uma apostila que era composta basicamente das leis que cairiam no referido concurso (naquele tempo não existia internet) e de algumas regras gramaticais. Comecei a estudar, de modo a me familiarizar com os termos legais e compreender o sentido de cada artigo de lei. Foi um estudo assistemático, um singelo processo de acumulação de conteúdo sem qualquer base teórica. Pela primeira vez na minha vida, eu estudei a sério: ficava de manhã, de tarde e de noite decorando a apostila que eu tinha comprado na banca de jornal.
Tenho certeza absoluta que só estudei daquele jeito porque eu estava achando minha vida uma merda, porque eu estava me achando um bosta e a esperança que eu tinha era passar no concurso de Oficial de Justiça. Por isso costumo dizer que minha carreira começou no dia em que eu não passei no vestibular: foi em razão da minha reprovação no vestibular que eu fui estudar para o concurso de Oficial de Justiça.
Além disso, como quase todo menino dessa idade, eu não sabia exatamente que faculdade queria ou deveria cursar: o estudo e eventual trabalho como oficial de justiça iriam me possibilitar saber se a escolha de cursar direito era uma boa decisão.
Eu até gostei de estudar leis, mas um dia iria descobrir que a teoria do Direito é muito mais interessante. Estudo da lei seca, para quem nunca estudou direito, pode ser muito difícil. Eu comprei um dicionário jurídico, mas não ajudou muito. Por incrível que pareça, o que me fez compreender o significado de vários termos legais foi o dicionário comum. Uma amiga da minha mãe, que era advogada, também me ajudou nessa parte.
Felizmente, só foi divulgada a relação candidato por vaga em data próxima à da prova: como eram 330 candidatos por vaga, e eu teria desistido de estudar para esse concurso e optaria por estudar para o vestibular que, embora distante, me pareceria mais viável.
Mas o fato é que eu não desisti de estudar para o concurso de Oficial de Justiça. O dia da prova foi terrível: eu cheguei à escola em que deveria fazer a prova, vi um monte de gente, e calculei que nas outras escolas estava acontecendo o mesmo. Fiquei pensado porque eu passaria no concurso, se tinham tantos outros candidatos disputando as vagas... Para piorar, fui o primeiro da sala a terminar a prova, o que me deu a impressão de que eu tinha ido muito mal. Fui para casa com uma sensação de derrota, achando que mais uma vez eu iria perder o jogo.
Eu me lembro exatamente do dia em que saiu o resultado do concurso para Oficial de Justiça: no dia divulgado, eu fui para a porta do edifício em que funcionava a parte administrativa da Justiça Estadual, situado na Rua da Consolação, aguardar que o resultado fosse afixado na parte de fora do prédio. Lá estavam mais uns vinte ou trinta candidatos, todos ansiosos, e correu um boato que o número de vagas tinha aumentado de cem para mil. Nesse dia eu estava muito esperançoso, achando que tinha chances de ter passado.
Eu pulei (literalmente) de alegria quando vi meu nome na lista dos aprovados, entre os cem primeiros colocados. Voltei para casa, dei a notícia para minha mãe. Se tinha uma coisa que eu gostava era deixar minha mãe feliz. E meu pai ficaria com orgulho de mim.
Pouco tempo depois eu estaria trabalhando como oficial de justiça da 14ª. Vara Criminal da Comarca da Capital do Estado de São Paulo. E, no mesmo ano, fui aprovado no vestibular da Faculdade de Direito da USP (em 19º lugar em mais de dez mil candidatos). E mais: com nota dez em redação! Fiquei com a alma lavada.
Também me lembro exatamente do momento em que vi o resultado do vestibular: era um fim de tarde, eu estava na Praça da Sé, tinha cumprido uns mandados no centro e comprei uma dessas edições especiais de jornal que trazia o resultado do vestibular. Em pé, no meio do barulho da multidão, procurei e achei meu nome na lista dos aprovados para o curso de Direito. Olhei de novo, para ter certeza de que era meu nome mesmo. Eu não podia acreditar que, em menos de um ano, minha vida tinha virado completamente.
Voltei para casa e minha mãe já tinha visto o resultado e estava radiante. Fui comemorar com meus pais no Terraço Itália, um ótimo restaurante situado na parte de cima do Edifício Itália, um local onde é possível ver uma grande parte da cidade de São Paulo. Eu comi um prato à base de carne de porco nesse dia. O Terraço Itália até hoje é um lugar especial para mim.
Mas nem tudo eram ou seriam flores. O trabalho como Oficial de Justiça não era maravilhoso. Era duro, difícil. Ter contato diário com a pobreza, com a miséria, com pessoas relacionadas com crimes, não era nem um pouco agradável. Foi por causa do trabalho que eu deixei de ser adolescente e passei à fase adulta. Assim, minha adolescência terminou a fórceps.
Marcadores:
adolescência,
concurso,
fase adulta,
oficial de justiça,
prova,
vestibular
quinta-feira, 2 de julho de 2009
11 - O Carandiru e outros presídios.
Quando eu comecei a escrever este livro, usei em um dos primeiros capítulos a expressão “naquele tempo não havia central de mandados” porque imaginava que a piora do trânsito em São Paulo teria de levar, necessariamente, à criação de central de mandados, tal como existe em Brasília e em outras cidades. Depois descobri que isso não aconteceu...
Contudo, já naquela época, para realizar citações e intimações de pessoas presas em presídios do Estado (não em delegacias), havia uma central de mandados: todo dia um oficial de uma das varas criminais iria cumprir os mandados de todas as varas em todos os presídios situados na Comarca da Capital (entenda-se: situados no Município de São Paulo).
Isso era chamado de rodízio: íamos com o motorista do fórum fazer as diligências nos vários presídios. Por esse motivo, conheci todos os presídios situados na cidade de São Paulo, bem como várias das suas peculiaridades. Evidentemente, visitar presídios não era nem um pouco agradável.
O famoso Carandiru, que foi tema de um filme exageradamente romanceado (mostrou o presídio como se fosse uma festa...) e hoje não mais existe, foi o primeiro presídio que eu visitei. Foi logo que comecei a trabalhar como oficial de justiça e, óbvio, não sabia muito bem como proceder. Fui orientado a não usar calça caqui no dia, pois esse é o uniforme que os presos utilizavam. Cheguei no horário estabelecido no fórum, apresentei-me ao motorista e fomos ao Carandiru. Lá chegando, fui recebido por um funcionário (agente penitenciário) que me informou que todas as intimações seriam realizadas em uma sala situada em um dos pavilhões. Ele me tratava a todo tempo por “Oficial” e eu estava achando ótimo: se o cara estava me tratando com respeito, é porque não estava percebendo a minha insegurança de Oficial de Justiça novato.
Fomos então nos dirigindo ao interior do Carandiru. Em um dado momento, antes de ingressar no primeiro pavilhão, seria necessário passar por uma revista, pois ninguém, exceto os agentes que faziam o policiamento, poderia ingressar com armas dentro dos pavilhões. A “revista” foi assim: um outro funcionário, que estava sentado em cima de uma mesa com cara de entediado, disse o seguinte:
- Você está com alguma arma aí?
Eu respondi que não e ele então disse que eu poderia entrar. Só isso, nada mais.
Uma porta após outra foi se fechando atrás de mim. Até aí, tudo bem. Eu estava tranqüilo, pois estava ao lado de um funcionário que conhecia muito bem o presídio. Ele me disse que os presos estariam de calça caqui. Logicamente, quem não estivesse de calça caqui seria funcionário do presídio.
Quando cheguei ao primeiro pátio, vi um grande número de pessoas trabalhando. Todas elas usando calça caqui. Não foi uma visão muito agradável.
Na verdade, toda vez que ocorria alguma rebelião nos presídios, os bons funcionários ficavam sabendo com alguma antecedência. Por “bons funcionários” entenda-se o seguinte: é aquele que não espancava os presos. Havia outra “categoria” de funcionários, chamados de “caceteiros”, exatamente porque regularmente davam cacete nos presos. Em caso de rebelião no presídio, os “caceteiros” eram os primeiros a sofrer a revanche dos presos, pois os “bons funcionários” tinham o tempo necessário para fugir e esperar a chegada do batalhão de choque da Polícia Militar resolver o problema.
O clima parecia tranqüilo naquele dia. O funcionário que estava comigo ia me explicando como as coisas funcionavam no Carandiru, que os presos trabalhavam para ter redução da pena etc. Naquele momento, eu ainda não estava com medo, a despeito do mar de calças caquis que estava ao nosso redor.
Chegamos a uma sala minúscula, onde receberíamos os presos. Teoricamente, eu é quem deveria fazer as citações e intimações. Mas quem fez tudo foi o funcionário do presídio, que conhecia muito mais do que eu a respeito do que seria o meu trabalho.
Ele ia falando com os presos algo como “bronca de seis anos em regime fechado” (“bronca”, na gíria penal, significa sentença condenatória ou pena de prisão), “levou uma bronca baixa, deu sorte” etc. Ele ia explicando e orientando os presos, inclusive quanto a possibilidade de recorrer das sentenças condenatórias. Explico: além do direito de o advogado recorrer, o preso pode, no ato em que é intimado, manifestar o direito de recorrer da sentença condenatória. E quase todos os presos perguntavam se era vantagem recorrer ou não. O funcionário foi orientando cada um deles e eu estava tranqüilo. Indiscutivelmente, eu estava ao lado de um “bom funcionário” e nem mesmo quando a pequena sala ficou com um número exagerado de presos eu fiquei com medo.
Mas, evidentemente, a coisa não poderia ser assim tão tranqüila. Tinha que dar alguma merda justamente no dia em que eu estava no Carandiru. É a famosa Lei de Murphy (“se algo pode dar errado, dará errado; se algo não pode dar errado, talvez dê certo”). E deu uma merdinha mesmo, felizmente rapidamente contornada em razão da experiência prática dos funcionários do presídio. Foi assim:
Todo mundo já ouviu falar nos famosos “justiceiros”: são pessoas que matam bandidos ou supostos bandidos. Como matar alguém é crime, mesmo que esse alguém seja bandido, salvo nas hipóteses de excludentes de ilicitude, os “justiceiros” podem acabar presos. E ser um “justiceiro” em um presídio é algo muito perigoso, pois os demais criminosos odeiam os “justiceiros”. Por isso os “justiceiros” ficavam separados dos demais presos. Em um presídio imenso como o Carandiru, com vários pavilhões, nem todo mundo sabia quem era quem. Presos de pavilhões diferentes poderiam passar anos se sequer se verem.
Em um dado momento, nós estávamos intimando um grupo de “justiceiros”. O funcionário, que estava tranqüilo demais simplesmente porque estava realizando seu trabalho diário, soltou a seguinte frase em voz alta o suficiente para ser ouvida fora da sala:
- Tá precisando de uns “justiceiros” lá no meu bairro, porque tem muito bandido.
Justamente nessa hora estava chegando presos de um outro pavilhão, que perceberam na hora que nós estávamos com “justiceiros” na sala.
O funcionário que estava trazendo esses presos (que não estavam algemados, porque ninguém fica assim no presídio) percebeu que poderia dar merda e brecou imediatamente a entrada dos presos na sala.
Eu vi um justiceiro ficar branco de medo. Parecia que o cara iria desmaiar. O funcionário que estava na sala comigo se levantou da cadeira rapidamente e foi até a porta. Disse em tom imperativo:
- Ninguém entra nem sai da sala!
Os presos que estavam do lado de fora ficaram se olhando, como quem pergunta o que deveria ser feito naquele momento. Com exceção dos “justiceiros” (óbvio), o mais amedrontado era eu, porque eu já tinha lido alguma vez que na hora que dá merda no presídio, a primeira coisa que é feita pelos presos é obrigar o refém a trocar de calça com ele. Depois disso tudo pode acontecer.Nós estávamos em grande desvantagem numérica:
continua...
Contudo, já naquela época, para realizar citações e intimações de pessoas presas em presídios do Estado (não em delegacias), havia uma central de mandados: todo dia um oficial de uma das varas criminais iria cumprir os mandados de todas as varas em todos os presídios situados na Comarca da Capital (entenda-se: situados no Município de São Paulo).
Isso era chamado de rodízio: íamos com o motorista do fórum fazer as diligências nos vários presídios. Por esse motivo, conheci todos os presídios situados na cidade de São Paulo, bem como várias das suas peculiaridades. Evidentemente, visitar presídios não era nem um pouco agradável.
O famoso Carandiru, que foi tema de um filme exageradamente romanceado (mostrou o presídio como se fosse uma festa...) e hoje não mais existe, foi o primeiro presídio que eu visitei. Foi logo que comecei a trabalhar como oficial de justiça e, óbvio, não sabia muito bem como proceder. Fui orientado a não usar calça caqui no dia, pois esse é o uniforme que os presos utilizavam. Cheguei no horário estabelecido no fórum, apresentei-me ao motorista e fomos ao Carandiru. Lá chegando, fui recebido por um funcionário (agente penitenciário) que me informou que todas as intimações seriam realizadas em uma sala situada em um dos pavilhões. Ele me tratava a todo tempo por “Oficial” e eu estava achando ótimo: se o cara estava me tratando com respeito, é porque não estava percebendo a minha insegurança de Oficial de Justiça novato.
Fomos então nos dirigindo ao interior do Carandiru. Em um dado momento, antes de ingressar no primeiro pavilhão, seria necessário passar por uma revista, pois ninguém, exceto os agentes que faziam o policiamento, poderia ingressar com armas dentro dos pavilhões. A “revista” foi assim: um outro funcionário, que estava sentado em cima de uma mesa com cara de entediado, disse o seguinte:
- Você está com alguma arma aí?
Eu respondi que não e ele então disse que eu poderia entrar. Só isso, nada mais.
Uma porta após outra foi se fechando atrás de mim. Até aí, tudo bem. Eu estava tranqüilo, pois estava ao lado de um funcionário que conhecia muito bem o presídio. Ele me disse que os presos estariam de calça caqui. Logicamente, quem não estivesse de calça caqui seria funcionário do presídio.
Quando cheguei ao primeiro pátio, vi um grande número de pessoas trabalhando. Todas elas usando calça caqui. Não foi uma visão muito agradável.
Na verdade, toda vez que ocorria alguma rebelião nos presídios, os bons funcionários ficavam sabendo com alguma antecedência. Por “bons funcionários” entenda-se o seguinte: é aquele que não espancava os presos. Havia outra “categoria” de funcionários, chamados de “caceteiros”, exatamente porque regularmente davam cacete nos presos. Em caso de rebelião no presídio, os “caceteiros” eram os primeiros a sofrer a revanche dos presos, pois os “bons funcionários” tinham o tempo necessário para fugir e esperar a chegada do batalhão de choque da Polícia Militar resolver o problema.
O clima parecia tranqüilo naquele dia. O funcionário que estava comigo ia me explicando como as coisas funcionavam no Carandiru, que os presos trabalhavam para ter redução da pena etc. Naquele momento, eu ainda não estava com medo, a despeito do mar de calças caquis que estava ao nosso redor.
Chegamos a uma sala minúscula, onde receberíamos os presos. Teoricamente, eu é quem deveria fazer as citações e intimações. Mas quem fez tudo foi o funcionário do presídio, que conhecia muito mais do que eu a respeito do que seria o meu trabalho.
Ele ia falando com os presos algo como “bronca de seis anos em regime fechado” (“bronca”, na gíria penal, significa sentença condenatória ou pena de prisão), “levou uma bronca baixa, deu sorte” etc. Ele ia explicando e orientando os presos, inclusive quanto a possibilidade de recorrer das sentenças condenatórias. Explico: além do direito de o advogado recorrer, o preso pode, no ato em que é intimado, manifestar o direito de recorrer da sentença condenatória. E quase todos os presos perguntavam se era vantagem recorrer ou não. O funcionário foi orientando cada um deles e eu estava tranqüilo. Indiscutivelmente, eu estava ao lado de um “bom funcionário” e nem mesmo quando a pequena sala ficou com um número exagerado de presos eu fiquei com medo.
Mas, evidentemente, a coisa não poderia ser assim tão tranqüila. Tinha que dar alguma merda justamente no dia em que eu estava no Carandiru. É a famosa Lei de Murphy (“se algo pode dar errado, dará errado; se algo não pode dar errado, talvez dê certo”). E deu uma merdinha mesmo, felizmente rapidamente contornada em razão da experiência prática dos funcionários do presídio. Foi assim:
Todo mundo já ouviu falar nos famosos “justiceiros”: são pessoas que matam bandidos ou supostos bandidos. Como matar alguém é crime, mesmo que esse alguém seja bandido, salvo nas hipóteses de excludentes de ilicitude, os “justiceiros” podem acabar presos. E ser um “justiceiro” em um presídio é algo muito perigoso, pois os demais criminosos odeiam os “justiceiros”. Por isso os “justiceiros” ficavam separados dos demais presos. Em um presídio imenso como o Carandiru, com vários pavilhões, nem todo mundo sabia quem era quem. Presos de pavilhões diferentes poderiam passar anos se sequer se verem.
Em um dado momento, nós estávamos intimando um grupo de “justiceiros”. O funcionário, que estava tranqüilo demais simplesmente porque estava realizando seu trabalho diário, soltou a seguinte frase em voz alta o suficiente para ser ouvida fora da sala:
- Tá precisando de uns “justiceiros” lá no meu bairro, porque tem muito bandido.
Justamente nessa hora estava chegando presos de um outro pavilhão, que perceberam na hora que nós estávamos com “justiceiros” na sala.
O funcionário que estava trazendo esses presos (que não estavam algemados, porque ninguém fica assim no presídio) percebeu que poderia dar merda e brecou imediatamente a entrada dos presos na sala.
Eu vi um justiceiro ficar branco de medo. Parecia que o cara iria desmaiar. O funcionário que estava na sala comigo se levantou da cadeira rapidamente e foi até a porta. Disse em tom imperativo:
- Ninguém entra nem sai da sala!
Os presos que estavam do lado de fora ficaram se olhando, como quem pergunta o que deveria ser feito naquele momento. Com exceção dos “justiceiros” (óbvio), o mais amedrontado era eu, porque eu já tinha lido alguma vez que na hora que dá merda no presídio, a primeira coisa que é feita pelos presos é obrigar o refém a trocar de calça com ele. Depois disso tudo pode acontecer.Nós estávamos em grande desvantagem numérica:
continua...
Marcadores:
carandiru,
intimação,
justiceiros,
oficial de justiça,
penitenciária,
presídio,
prisão
Tópicos do livro a respeito do trabalho de Oficial de Justiça
Meu método de escrever contempla isto: à medida em que vou escrevendo, percebo a necessidade de alterar a estrutura do livro. Por isso mudo um pouco os tópicos. Agora o índice do livro está assim:
Advertência ao leitor.
1.A primeira favela. O lado pobre da rica cidade de São Paulo.
2.Estudando para o concurso público: de filhinho de papai (adolescência) a Oficial de Justiça (fase adulta).
3.A vara criminal.
4.Os bandidos, as vítimas e as testemunhas.
5.Minha mãe, as mães dos bandidos e as mães das vítimas. Família, pobreza e criminalidade.
6.Investigadores de polícia, carteiros e cobradores de ônibus.
7.Advogados, juízes e outras espécies da fauna judiciária.
8.O dia em que, sem querer, eu plantei uma nulidade em um processo criminal.
9.O dia em que eu evitei fosse plantada uma nulidade em um processo criminal.
10. O centro de São Paulo. O fórum e o elevador do fórum.
11.O Carandiru e outros presídios.
12.As delegacias de polícia. O problema da segurança pública em São Paulo.
13.A corrupção na polícia e no Judiciário.
14.Políticos, empresários e prostitutas.
15.Crime de rico e crime de pobre.
16.A parte boa de São Paulo.
17.Dando “carteirada” como Oficial de Justiça.
18.A Faculdade de Direito do Largo São Francisco.
19.A liberdade que o dinheiro proporciona.
20.Os desafios seguintes.
21.Conclusões.
Como se vê, há aspectos bastante interessantes que estou abordando no livro. Alguns decorreram de pedidos formulados por e-mail.
.
Advertência ao leitor.
1.A primeira favela. O lado pobre da rica cidade de São Paulo.
2.Estudando para o concurso público: de filhinho de papai (adolescência) a Oficial de Justiça (fase adulta).
3.A vara criminal.
4.Os bandidos, as vítimas e as testemunhas.
5.Minha mãe, as mães dos bandidos e as mães das vítimas. Família, pobreza e criminalidade.
6.Investigadores de polícia, carteiros e cobradores de ônibus.
7.Advogados, juízes e outras espécies da fauna judiciária.
8.O dia em que, sem querer, eu plantei uma nulidade em um processo criminal.
9.O dia em que eu evitei fosse plantada uma nulidade em um processo criminal.
10. O centro de São Paulo. O fórum e o elevador do fórum.
11.O Carandiru e outros presídios.
12.As delegacias de polícia. O problema da segurança pública em São Paulo.
13.A corrupção na polícia e no Judiciário.
14.Políticos, empresários e prostitutas.
15.Crime de rico e crime de pobre.
16.A parte boa de São Paulo.
17.Dando “carteirada” como Oficial de Justiça.
18.A Faculdade de Direito do Largo São Francisco.
19.A liberdade que o dinheiro proporciona.
20.Os desafios seguintes.
21.Conclusões.
Como se vê, há aspectos bastante interessantes que estou abordando no livro. Alguns decorreram de pedidos formulados por e-mail.
.
Marcadores:
descrição,
livro,
oficial de justiça,
tópicos,
trabalho
sexta-feira, 26 de junho de 2009
Advogados, juízes e outras espécies da fauna judiciária
Se o público comum que eu encontrava nas minhas diligências variava da classe E à classe A, o mesmo posso dizer dos advogados. Vi desde o advogado semi-analfabeto até o medalhão famoso.
Não é possível dizer como era o perfil ou o comportamento padrão dos advogados criminalistas que conheci, nem mesmo tentando generalizar. Alguns eram muitos jovens, outros muitos velhos; alguns eram ótimos de papo, outros carrancudos; tinha advogado que era político, advogado que só trabalhava no convênio da assistência judiciária gratuita, advogado com escritório do mais alto luxo, advogado que trabalhava em verdadeiras espeluncas, advogado que só defendia bandido rico, digo, réu rico etc. Alguns advogados usavam diversas artimanhas para atrasar ou anular o processo, outros faziam questão de agir de forma estritamente correta para adquirir ou manter o respeito perante os juízes. Tinha de tudo mesmo.
Os advogados mais cultos, em geral, não davam muito papo para mim. No máximo eram gentis e me parabenizavam por ser “tão novo e já oficial de justiça”... Alguns advogados, ao contrário, adoravam conversar e contar vantagem. Com esses era diversão na certa.
Uma vez eu fiquei conversando com um advogado brega e burrão a respeito de não sei o quê, quando começamos a divergir a respeito da localização da cidade de Itapevi. Eu falava que era depois de Carapicuíba e ele insistia que era antes. Diante do impasse, fomos consultar o mapa. Eu estava certo, mas ele não demorou nem um segundo e disse “tá vendo, cara, eu não disse que fica depois de Carapicuíba?!”. Eu achei muito engraçado alguém ser tão cara de pau por causa de uma bobagem dessas.
A relação dos oficiais de justiça com os advogados era amistosa. Nós sentíamos uma verdadeira admiração pelos advogados. Até porque muitos oficiais de justiça eram bacharéis em direito e tinham como meta um outro cargo público ou a advocacia privada.
Nessa época, de uma forma um tanto ingênua (mas natural considerando a minha idade), eu sonhava em ser advogado com escritório próprio no centro de São Paulo. Eu realmente me imaginava assim: já mais velho (entenda-se: “mais velho” era com uns trinta e cinco anos de idade, casado e com filhos...), em um belo escritório, recebendo os oficiais de justiça, e com uma secretária com idade para ser minha avó, para me trazer sanduíche e suco de laranja às quatro da tarde porque eu não poderia só trabalhar sem comer direito. Acredite se quiser: eu não sonhava com uma secretária gostosa com idade para ser minha sobrinha e que fosse me trazer whisky às seis horas da tarde... (De tudo que estou afirmando neste livro, acredito que essa seja a parte mais inverossímil, mas juro que é verdade!)
Uma minoria dos advogados dava muito trabalho. Explico: naquela época, os advogados eram intimados pessoalmente pelo oficial de justiça nos processos criminais e não pelo diário oficial. Como existe prescrição intercorrente no processo criminal, poderia ser estratégico para a defesa o prolongamento do processo. Uma das maneiras de fazer isso era evitando a intimação de qualquer ato processual a ser feito pelo oficial de justiça. O advogado, então, deixava ordem para a secretária falar com qualquer oficial de justiça que ele não estava no escritório.
A questão poderia ser simples se houvesse “intimação por hora certa”, segundo a qual o oficial de justiça, ao não encontrar o advogado em seu escritório, afirmasse o dia e hora em que voltaria ao local. Mas isso não existia juridicamente. O jeito era ir várias vezes ao local e receber a mesma resposta da secretária: “o doutor não se encontra neste momento”.
Mas nós oficiais de justiça também tínhamos nossos truques.
Havia um advogado não tão famoso nos meios acadêmicos, mas com uma grande clientela. Ele era muito conhecido dos oficiais de justiça, exatamente porque era impossível intimá-lo em seu escritório. Quando pegávamos um mandado com o nome dele ficávamos desesperados, sabendo que o trabalho seria terrível. Até que um dia alguém teve uma idéia que resolveu o problema.
Era o seguinte: em um dia de movimento grande no fórum, no começo da tarde, pegar o elevador e ir até o último andar. Descer pela escada, passando em cada vara para verificar se o tal advogado teria audiência naquele dia. Normalmente, em alguma das trinta varas criminais, haveria uma audiência do tal advogado e a intimação seria feita nessa hora e local.
Adotei esse procedimento uma vez e deu certo: foi quando conheci o tal advogado que era o pavor dos oficiais de justiça. O problema é que a notícia espalhou e todos os oficiais passaram a fazer a mesma coisa. Em um outro dia, eu e mais três ou quatro oficiais de justiça de varas diferentes estávamos à espreita na porta da sala de audiência esperando o tal advogado. E, óbvio, estávamos conversando alto, cada um contando as últimas aventuras. O secretário da audiência pediu que nós conversássemos mais baixo, porque o juiz já tinha reclamado. Ficamos com vergonha na hora, mas nesse exato momento surgiu o tal advogado, que não esperava ser abordado por um grupo de oficiais de justiça com mandados de intimação. Ele tentou fugir, mas nós o cercamos e todos cumprimos os mandados.
Mas nem sempre nós ganhávamos. Antes de termos adotado esse procedimento, o meio utilizado tinha se relevado ineficaz. Foi assim: eu fui várias vezes ao escritório do tal advogado, em datas e horários diferentes. Certificava no mandado cada dia e hora da diligência, bem como o nome e a descrição física da secretária que deu a informação. Feito isso, devolvi o mandado em cartório. O juiz, então, determinou a expedição de mandado intimação para o réu constituir novo defensor, tendo em vista que o oficial de justiça não conseguia encontrar o advogado atual. O réu, devidamente intimado, nomeou como defensor nada mais nada mesmo que a advogada que trabalhava com o advogado fujão!.. Com isso, o processo se alongou por um bom tempo, e eu continuei com o mico na mão, desta vez para intimar a advogada que também se escondia. Foi aí que passamos a intimá-los na hora de alguma audiência.
Às vezes era necessário adotar um método um pouco mais incisivo para conseguir cumprir mandado de intimação de advogado. Era assim: eu ia até a OAB, obtinha o endereço residencial do advogado, e ficava à espreita, de manhã cedo ou no final do dia, para intimá-lo na saída ou chegada de casa.
Raras vezes (eu me lembro de todas) havia tentativa de corrupção. Em uma delas aconteceu a coisa mais surpreendente possível. Um advogado me recebeu e pediu para colocar no mandado uma data muito superveniente. A praxe era colocar a data do dia seguinte, para o advogado ter um dia a mais de prazo. Embora já errada, era a prática comumente adotada e que eu seguia porque era a regra do jogo: o advogado não mandava dizer “que não estava” e nos recebia; em troca, ganhava um dia a mais de prazo. Certo ou errado, era assim que a coisa funcionava na prática. E não seria eu que iria mudar algo sedimentado e que não causava dano para a Justiça. Mas esse advogado queria um prazo muito maior, o que não estava dentro do padrão. Eu disse que não era possível.
Ele então abriu a pasta com várias notas de dinheiro vivo, parecia coisa de filme. Eu fiquei assustado com a ostensiva tentativa de suborno e disse secamente que iria certificar a intimação com a data do dia, sem nenhuma concessão. Ele viu que não seria possível conseguir nada além do que era comumente concedido e, visivelmente contrariado, assinou o mandado e colocou a data do dia seguinte.
Fiquei preocupado, com medo de sofrer alguma retaliação, pois o advogado parecia ser poderoso, a julgar pelo escritório luxuoso. Ele me levou até a porta, bateu no meu ombro, e me disse com um sorriso:
- Vá em frente, garoto!
Na hora eu não entendi nada. Não fiz o que o advogado queria e ele se despediu como de gostasse de mim... Muito tempo depois, entendi: ele realmente gostou da minha atitude de recusar ser subornado, mesmo que isso o tivesse prejudicado naquele momento. É que ele sabia que o adequado seria todo mundo agir corretamente, sem se submeter à corrupção.
Apenas uma vez um advogado me destratou, mas eu tive uma parcela de culpa. Foi um advogado que é famoso nos meios acadêmicos, talvez por ser filho de um jurista muito conceituado. Eu recebi o mandado e achei o máximo ter de intimar o tal advogado famoso. Eu era calouro na São Francisco e, por coincidência, ele iria dar uma palestra lá na semana seguinte.
No final da palestra eu fui, todo feliz, tietar o cara (lembre-se: eu era calouro) e levar o mandado de intimação. Para a minha surpresa, ele foi grosseiro e disse que só receberia a intimação no escritório.
Desapontado, perguntei ao juiz se o advogado poderia se recusar a receber o mandado fora do escritório. Ele ficou na dúvida, disse que o Código não falava nada a respeito e que era melhor eu tentar fazer a intimação no escritório, endereço que constava do processo e do mandado.
Comentei o ocorrido com um colega de faculdade, que me disse simplesmente isto:
- Esse cara só é famoso por causa do pai.
Fiquei sem saber se isso era verdade ou não. Seja como for, eu tinha de cumprir o mandado, que já tinha perdido todo o glamour em razão do comportamento nada gentil do advogado famoso. Fui até o escritório dele e não o encontrei. Foi aí que cometi um duplo erro:
Continua...
Marcadores:
advogado,
corrupção,
intimação,
mandado,
oficial de justiça
quarta-feira, 3 de junho de 2009
Vítimas e testemunhas (continuação)
...Continuação do Capítulo Bandidos, vítimas e testemunhas...
O fato é que as vítimas detestavam ser intimadas e enfrentar uma audiência com réu presente na sala da audiência. Reclamavam comigo disso, mas eu nada podia fazer. O pior de tudo era quando a vítima comparecia ao fórum, perdia uma tarde de trabalho por causa disso e, por qualquer razão, a audiência não se realizava. Quando não era designada nova data para a audiência ou quando a vítima não saía intimada, o oficial de justiça tinha de fazer a intimação e, é claro, ouvir novas reclamações da pessoa que tinha sido vítima de um crime e agora se sentia vítima da máquina judiciária. Eu só ouvia, nem mesmo me arriscava a concordar com as queixas, pois temia que a pessoa ficasse com mais raiva ainda.
Uma região que eu não gostava de ir era a do Aeroporto de Congonhas. Em uma das minhas primeiras diligências eu presenciei um assalto à mão armada no ponto de ônibus: dois caras em uma moto, o carona desce da moto com uma pistola prateada e leva a bolsa de uma mulher humilde. Eu fiquei atrás da pilastra do ponto de ônibus com medo do cara atirar.
Um dia recebi um mandado para intimar uma testemunha que morava na favela “Buraco Quente”, que se situava justamente naquela região. Mas não fiquei com medo, porque se tinha um lugar que eu me sentia seguro era no meio de uma favela: nenhum bandido iria fazer merda em um local onde todo mundo se conhece bem e vive junto.
Eu fui até a favela e perguntei pela sra. Fulana. Um senhor me levou até o barraco dela. Lá chegando, a filha da testemunha disse que ela não iria demorar. A menina deveria ter uns treze ou quatorze anos, talvez menos. Ela usava um vestido desbotado e rasgado. Nós estávamos na frente do barraco, em um lugar que tinha como vista um prédio que, na minha lembrança, era luxuoso.
Aqui eu fico na dúvida: visto de uma favela, qualquer prédio é luxuoso. Então eu não sei se o prédio era de classe média ou de classe média alta. Devia ser de classe média para baixo, porque ninguém de classe média alta vai morar do lado de uma favela. Seja como for, é única a perspectiva de ver da favela um edifício de apartamento (ainda que não fosse luxuoso, era obviamente anos luz melhor que a favela). Eu jamais irei esquecer essa imagem.
A menina perguntou se eu não queria sentar. Não tinha nenhum banco ou cadeira no local e eu me sentei no chão. Ela ficou meio sem graça por causa disso, e foi arrumar uma cadeira no barraco vizinho. Voltou com uma carteira escolar e eu sentei nela. Nisso chegou a irmã dela, que era mais nova. Eu fiquei conversando com a menina mais velha, mas tratando-a como quem trata uma criança. Então ela disse que no final de semana iria para a praia, completando de uma forma nada infantil:
- Vou usar um biquíni muito pequeno!..
E continuou com algumas frases do mesmo quilate. Naquela época o problema da pedofilia e da prostituição infantil não era noticiada em jornais. Eu tinha visto casos de estupro, todos eles entre pessoas da família (normalmente tio que abusava da sobrinha). Mas o tema não tinha a dimensão que tem hoje. Se fosse, eu teria saído correndo de lá imediatamente, sem cumprir o mandado, com medo de alguém ouvir a conversa da garota e achar que eu é que estava avançando o sinal. Com certeza eu iria preferir enfrentar o cara da pistola no ponto de ônibus!.. Ou arriscar uma certidão falsa, do tipo “a testemunha não é conhecida no local”... Mas como eu não vislumbrava qualquer perigo na conversa dela, achei até bonito ver o comportamento de uma menina na fase de transição para mulher e continuei conversando normalmente com ela.
Porém, ficou evidente que a minha conversa não estava como ela queria, pois ela disse a seguinte frase, com a amargura das pessoas que já sentem o peso da baixa condição social:
- O rapaz só gosta de moça rica.
Isso realmente me incomodou, porque não era verdade. Eu nunca tive preconceito com os pobres. Mas daí para tratar como mulher uma menina que ainda por cima era a filha da testemunha que eu deveria intimar vai uma grande diferença... Eu não me lembro se a menina era feia ou bonita, mas o fato é que, definitivamente, tratá-la de outro jeito estava fora de cogitação.
Meio constrangido, tentei mudar o rumo da prosa. Como a menina estava chateada porque realmente achou que eu não me interessei por ela porque ela era pobre, a conversa acabou. Eu comecei a desconfiar se a testemunha estava mesmo prestes a chegar. Decidi ir embora, deixando apenas os dados da audiência para a menina entregar à mãe. Comecei a preencher a papeleta e, por sorte, ela chegou nesse exato momento. Fiz a intimação e fui embora, com mais um mandado cumprido na minha pasta e mais uma experiência de vida.
Continua...
O fato é que as vítimas detestavam ser intimadas e enfrentar uma audiência com réu presente na sala da audiência. Reclamavam comigo disso, mas eu nada podia fazer. O pior de tudo era quando a vítima comparecia ao fórum, perdia uma tarde de trabalho por causa disso e, por qualquer razão, a audiência não se realizava. Quando não era designada nova data para a audiência ou quando a vítima não saía intimada, o oficial de justiça tinha de fazer a intimação e, é claro, ouvir novas reclamações da pessoa que tinha sido vítima de um crime e agora se sentia vítima da máquina judiciária. Eu só ouvia, nem mesmo me arriscava a concordar com as queixas, pois temia que a pessoa ficasse com mais raiva ainda.
Uma região que eu não gostava de ir era a do Aeroporto de Congonhas. Em uma das minhas primeiras diligências eu presenciei um assalto à mão armada no ponto de ônibus: dois caras em uma moto, o carona desce da moto com uma pistola prateada e leva a bolsa de uma mulher humilde. Eu fiquei atrás da pilastra do ponto de ônibus com medo do cara atirar.
Um dia recebi um mandado para intimar uma testemunha que morava na favela “Buraco Quente”, que se situava justamente naquela região. Mas não fiquei com medo, porque se tinha um lugar que eu me sentia seguro era no meio de uma favela: nenhum bandido iria fazer merda em um local onde todo mundo se conhece bem e vive junto.
Eu fui até a favela e perguntei pela sra. Fulana. Um senhor me levou até o barraco dela. Lá chegando, a filha da testemunha disse que ela não iria demorar. A menina deveria ter uns treze ou quatorze anos, talvez menos. Ela usava um vestido desbotado e rasgado. Nós estávamos na frente do barraco, em um lugar que tinha como vista um prédio que, na minha lembrança, era luxuoso.
Aqui eu fico na dúvida: visto de uma favela, qualquer prédio é luxuoso. Então eu não sei se o prédio era de classe média ou de classe média alta. Devia ser de classe média para baixo, porque ninguém de classe média alta vai morar do lado de uma favela. Seja como for, é única a perspectiva de ver da favela um edifício de apartamento (ainda que não fosse luxuoso, era obviamente anos luz melhor que a favela). Eu jamais irei esquecer essa imagem.
A menina perguntou se eu não queria sentar. Não tinha nenhum banco ou cadeira no local e eu me sentei no chão. Ela ficou meio sem graça por causa disso, e foi arrumar uma cadeira no barraco vizinho. Voltou com uma carteira escolar e eu sentei nela. Nisso chegou a irmã dela, que era mais nova. Eu fiquei conversando com a menina mais velha, mas tratando-a como quem trata uma criança. Então ela disse que no final de semana iria para a praia, completando de uma forma nada infantil:
- Vou usar um biquíni muito pequeno!..
E continuou com algumas frases do mesmo quilate. Naquela época o problema da pedofilia e da prostituição infantil não era noticiada em jornais. Eu tinha visto casos de estupro, todos eles entre pessoas da família (normalmente tio que abusava da sobrinha). Mas o tema não tinha a dimensão que tem hoje. Se fosse, eu teria saído correndo de lá imediatamente, sem cumprir o mandado, com medo de alguém ouvir a conversa da garota e achar que eu é que estava avançando o sinal. Com certeza eu iria preferir enfrentar o cara da pistola no ponto de ônibus!.. Ou arriscar uma certidão falsa, do tipo “a testemunha não é conhecida no local”... Mas como eu não vislumbrava qualquer perigo na conversa dela, achei até bonito ver o comportamento de uma menina na fase de transição para mulher e continuei conversando normalmente com ela.
Porém, ficou evidente que a minha conversa não estava como ela queria, pois ela disse a seguinte frase, com a amargura das pessoas que já sentem o peso da baixa condição social:
- O rapaz só gosta de moça rica.
Isso realmente me incomodou, porque não era verdade. Eu nunca tive preconceito com os pobres. Mas daí para tratar como mulher uma menina que ainda por cima era a filha da testemunha que eu deveria intimar vai uma grande diferença... Eu não me lembro se a menina era feia ou bonita, mas o fato é que, definitivamente, tratá-la de outro jeito estava fora de cogitação.
Meio constrangido, tentei mudar o rumo da prosa. Como a menina estava chateada porque realmente achou que eu não me interessei por ela porque ela era pobre, a conversa acabou. Eu comecei a desconfiar se a testemunha estava mesmo prestes a chegar. Decidi ir embora, deixando apenas os dados da audiência para a menina entregar à mãe. Comecei a preencher a papeleta e, por sorte, ela chegou nesse exato momento. Fiz a intimação e fui embora, com mais um mandado cumprido na minha pasta e mais uma experiência de vida.
Continua...
Marcadores:
crime,
família,
favela,
máquina judiciária,
oficial de justiça,
testemunha,
vítima
O processo de elaboração continua...
Continuo escrevendo o livro. Neste momento tenho 36 páginas e imagino terminá-lo com umas 150. Os capítulos serão estes:
Advertência ao leitor.
1.A primeira favela. O lado pobre da rica cidade de São Paulo.
2.O concurso público: de filhinho de papai a Oficial de Justiça.
3.A vara criminal.
4.Os bandidos, as vítimas e as testemunhas.
5.Minha mãe, as mães dos bandidos e as mães das vítimas. Família, pobreza e criminalidade.
6.Investigadores de polícia, carteiros e cobradores de ônibus.
7.Advogados, juízes e outras espécies da fauna judiciária.
8.O dia em que, sem querer, eu plantei uma nulidade em um processo criminal.
9.O centro de São Paulo. O fórum e o elevador do fórum.
10.A corrupção na polícia e no Judiciário.
11.Dando “carteirada” como Oficial de Justiça.
12.O Carandiru e outros presídios. As delegacias de polícia.
13.Políticos, empresários e prostitutas.
14.Crime de rico e crime de pobre.
15.A parte boa de São Paulo.
16.A Faculdade de Direito do Largo São Francisco.
17.A liberdade que o dinheiro proporciona.
Advertência ao leitor.
1.A primeira favela. O lado pobre da rica cidade de São Paulo.
2.O concurso público: de filhinho de papai a Oficial de Justiça.
3.A vara criminal.
4.Os bandidos, as vítimas e as testemunhas.
5.Minha mãe, as mães dos bandidos e as mães das vítimas. Família, pobreza e criminalidade.
6.Investigadores de polícia, carteiros e cobradores de ônibus.
7.Advogados, juízes e outras espécies da fauna judiciária.
8.O dia em que, sem querer, eu plantei uma nulidade em um processo criminal.
9.O centro de São Paulo. O fórum e o elevador do fórum.
10.A corrupção na polícia e no Judiciário.
11.Dando “carteirada” como Oficial de Justiça.
12.O Carandiru e outros presídios. As delegacias de polícia.
13.Políticos, empresários e prostitutas.
14.Crime de rico e crime de pobre.
15.A parte boa de São Paulo.
16.A Faculdade de Direito do Largo São Francisco.
17.A liberdade que o dinheiro proporciona.
Marcadores:
crime,
criminal,
índice,
livro,
oficial de justiça
domingo, 31 de maio de 2009
Capítulo V - Investigadores de polícia, carteiros e cobradores de ônibus.
Nas diligências, era comum encontrar investigadores de polícia, mesmo fora das delegacias. Em uma entrevista que li recentemente na internet, uma oficial de justiça teria dito que a relação dos oficiais de justiça com a polícia era ruim. Digo, sinceramente, que essa não foi minha experiência. Pelo contrário, investigadores e agentes da polícia civil sempre davam boas conversas e eu os achava muito divertidos. Também não tive qualquer problema com policiais militares, mas em geral eles eram sérios e de pouca conversa.
Os policiais civis trabalhavam em dupla nas diligências com viatura. O agente policial dirigia o carro e o investigador ia no banco do carona.
Uma vez eu estava caminhando em uma avenida situada próxima à divisa com Diadema quando, subitamente, uma viatura da polícia civil parou na minha frente, o investigador desceu e disse bruscamente:
- É você que nós queremos!
Eu entendi na hora: eu estava com o guia de ruas na mão. E perguntei, já rindo da brincadeira:
- Vamos lá, que rua vocês querem encontrar?
Nisso o agente policial já tinha descido do carro e estava dando gargalhadas com a tentativa de susto que não deu certo e ficou mais engraçada ainda.
Eles me disseram o nome da rua e eu localizei no guia. Aproveitei e pedi uma carona para eles, que era para um local próximo. Só que eu disse que queria ficar uma rua antes da rua que eu tinha de ir, para não chegar no local em uma viatura da polícia.
Explico: chegar em uma viatura da polícia poderia assustar as pessoas e se eu estivesse buscando um réu, possivelmente haveria uma reação armada. No caso era apenas uma intimação de testemunha, mas mesmo assim eu não queria arriscar.
Os dois estavam conversando sobre um empréstimo e o investigador ficou dizendo para o agente: “se você não me pagar, ó...” e balançava o revólver...
Eu não consegui prender o riso e então eles me perguntaram se eu não gostaria de ir fazer a diligência deles com eles. Eu gentilmente disse que não, alegando que estava com muito serviço.
Não sei se ainda existe, mas naquela época tinham policiais civis que permitiam pessoas que não eram policiais acompanhassem ou realizassem as diligências. A gíria utilizada para designar essas pessoas era “ganso”. Não faço a menor idéia da razão desse nome, mas imagino que nos momentos de suposto perigo, o ganso deveria gritar de medo ou de excitação...
Havia dois tipos de “ganso”: o que pagava para ser “ganso” e que recebia para ser “ganso”.
Eu nunca vi um “ganso” em ação, mas conheci um cara, um colega de faculdade, que era “ganso” (também chamado de gansopol, porque a abreviatura de investigador de polícia era investpol).
As histórias que eu ouvia eram mais ou menos assim: o ganso que pagava para ser ganso era normalmente um comerciante da Zona Leste de São Paulo que queria brincar de ser policial, indo em diligências para mandar os suspeitos colocarem a mão da parede, pedir documentos, gritar “polícia, todo mundo parado!”, essas coisas, tal como a gente vê nos filmes.
Mas havia o gansopol que recebia para fazer algum tipo de trabalho para os investigadores. Quem pagava? Ora, os policiais não iriam tirar dinheiro do bolso para pagar o ganso. Portanto, ainda de acordo com as histórias que eu ouvi - que podem ser mentirosas -, o ganso ficava com uma parte da res furtiva que poderia ser apreendida nas diligências (res furtiva significa coisa furtada ou roubada).
Claro que todas essas histórias de gansos eram divertidíssimas.
Um investigador uma vez me disse que o ideal seria uma equipe ter três tiras, pois aí “um dá cobertura enquanto dois chegam junto”. Essa frase foi dita por um investigador que conheci em uma delegacia. Ele era muito gordo, usava um bigode aparado em cima (para ficar comprido e estreito), deveria ter uns quarenta anos. Eu achei essa história da equipe ideal muito engraçada, mas eu a contei para outras pessoas que não viram nada de mais.
Esse cara contou também como funcionava o esquema de casas de massagens, que tinham uma placa escrita “relax for men” na porta. Teoricamente, casa de prostituição é ilegal. A prostituição, em si, não é crime no Brasil, mas tirar proveito da prostituição alheia é crime. Pois bem. Eu perguntei para esse investigador muito gordo como é que a polícia deixava essas casas funcionarem. Ele me respondeu:
- Olha, raramente a gente recebe ordem para dar batida nesses locais. Quando mandam, a gente vai, lavra o flagrante, prende o gerente etc
E ele completou dizendo que fora dessas situações, era possível ir a essas casas e pegar uma puta sem pagar nada. Mas ele fez questão de dizer:
- Mas a gente sempre deixa uma gorjeta para elas. Aí fica tudo certo.
Confesso que acreditei nessa história, porque não duvido de como o mundo pode ser cruel. Eu fiquei imaginando uma puta magrinha tendo que dar para o investigador gordão...
Outro profissional que eu sempre encontrava em diligências eram os carteiros. Quase todos bem humorados, conheciam todas as ruas do bairro de cabeça (não precisavam nunca consultar o guia). Quando eu estava perdido, se surgisse um carteiro o problema estaria resolvido, pois eles sempre sabiam como chegar no local e sempre ajudavam.
Uma vez aconteceu isso e depois da diligência feita eu parei em um boteco. O carteiro estava lá tomando umas brejas. Já eram umas cinco ou seis da tarde e eu estava cansado de andar. Sentei à mesa com ele e começamos a conversar. Papo vai, papo vem, ele fez uma revelação:
- Eu tenho uma filha de nove anos fora do casamento. Só que a minha mulher não sabe...
Perguntei há quanto tempo eles estavam casados. Ele me respondeu que moravam junto há uns cinco ou seis anos. Então eu disse:
- Ué, por que você não contou para ela?
Aí ele me explicou que além do tempo em que moravam junto, teve um tempo de namoro, que ele ficou pegando as duas mulheres na mesma época. Contou o rolo todo, mas eu não prestei atenção nos detalhes, pois para mim o mais curioso era o fato dele contar a existência da filha para mim, que ele tinha concedido há menos de uma hora, e não contar para a mulher que divide a vida com ele.
No dia eu não entendi que ele queria apenas dividir a culpa que sentia por causa disso. Se eu dissesse que não tinha problema algum o cara ter uma filha fora do casamento sem a mulher saber, estaria tudo bem. Eu não cheguei a dizer isso, mas também não dei lição de moral no cara.
Quem eu conversava diariamente eram os cobradores de ônibus. A maioria deles não gostava do oficial de justiça. É que continua...
Os policiais civis trabalhavam em dupla nas diligências com viatura. O agente policial dirigia o carro e o investigador ia no banco do carona.
Uma vez eu estava caminhando em uma avenida situada próxima à divisa com Diadema quando, subitamente, uma viatura da polícia civil parou na minha frente, o investigador desceu e disse bruscamente:
- É você que nós queremos!
Eu entendi na hora: eu estava com o guia de ruas na mão. E perguntei, já rindo da brincadeira:
- Vamos lá, que rua vocês querem encontrar?
Nisso o agente policial já tinha descido do carro e estava dando gargalhadas com a tentativa de susto que não deu certo e ficou mais engraçada ainda.
Eles me disseram o nome da rua e eu localizei no guia. Aproveitei e pedi uma carona para eles, que era para um local próximo. Só que eu disse que queria ficar uma rua antes da rua que eu tinha de ir, para não chegar no local em uma viatura da polícia.
Explico: chegar em uma viatura da polícia poderia assustar as pessoas e se eu estivesse buscando um réu, possivelmente haveria uma reação armada. No caso era apenas uma intimação de testemunha, mas mesmo assim eu não queria arriscar.
Os dois estavam conversando sobre um empréstimo e o investigador ficou dizendo para o agente: “se você não me pagar, ó...” e balançava o revólver...
Eu não consegui prender o riso e então eles me perguntaram se eu não gostaria de ir fazer a diligência deles com eles. Eu gentilmente disse que não, alegando que estava com muito serviço.
Não sei se ainda existe, mas naquela época tinham policiais civis que permitiam pessoas que não eram policiais acompanhassem ou realizassem as diligências. A gíria utilizada para designar essas pessoas era “ganso”. Não faço a menor idéia da razão desse nome, mas imagino que nos momentos de suposto perigo, o ganso deveria gritar de medo ou de excitação...
Havia dois tipos de “ganso”: o que pagava para ser “ganso” e que recebia para ser “ganso”.
Eu nunca vi um “ganso” em ação, mas conheci um cara, um colega de faculdade, que era “ganso” (também chamado de gansopol, porque a abreviatura de investigador de polícia era investpol).
As histórias que eu ouvia eram mais ou menos assim: o ganso que pagava para ser ganso era normalmente um comerciante da Zona Leste de São Paulo que queria brincar de ser policial, indo em diligências para mandar os suspeitos colocarem a mão da parede, pedir documentos, gritar “polícia, todo mundo parado!”, essas coisas, tal como a gente vê nos filmes.
Mas havia o gansopol que recebia para fazer algum tipo de trabalho para os investigadores. Quem pagava? Ora, os policiais não iriam tirar dinheiro do bolso para pagar o ganso. Portanto, ainda de acordo com as histórias que eu ouvi - que podem ser mentirosas -, o ganso ficava com uma parte da res furtiva que poderia ser apreendida nas diligências (res furtiva significa coisa furtada ou roubada).
Claro que todas essas histórias de gansos eram divertidíssimas.
Um investigador uma vez me disse que o ideal seria uma equipe ter três tiras, pois aí “um dá cobertura enquanto dois chegam junto”. Essa frase foi dita por um investigador que conheci em uma delegacia. Ele era muito gordo, usava um bigode aparado em cima (para ficar comprido e estreito), deveria ter uns quarenta anos. Eu achei essa história da equipe ideal muito engraçada, mas eu a contei para outras pessoas que não viram nada de mais.
Esse cara contou também como funcionava o esquema de casas de massagens, que tinham uma placa escrita “relax for men” na porta. Teoricamente, casa de prostituição é ilegal. A prostituição, em si, não é crime no Brasil, mas tirar proveito da prostituição alheia é crime. Pois bem. Eu perguntei para esse investigador muito gordo como é que a polícia deixava essas casas funcionarem. Ele me respondeu:
- Olha, raramente a gente recebe ordem para dar batida nesses locais. Quando mandam, a gente vai, lavra o flagrante, prende o gerente etc
E ele completou dizendo que fora dessas situações, era possível ir a essas casas e pegar uma puta sem pagar nada. Mas ele fez questão de dizer:
- Mas a gente sempre deixa uma gorjeta para elas. Aí fica tudo certo.
Confesso que acreditei nessa história, porque não duvido de como o mundo pode ser cruel. Eu fiquei imaginando uma puta magrinha tendo que dar para o investigador gordão...
Outro profissional que eu sempre encontrava em diligências eram os carteiros. Quase todos bem humorados, conheciam todas as ruas do bairro de cabeça (não precisavam nunca consultar o guia). Quando eu estava perdido, se surgisse um carteiro o problema estaria resolvido, pois eles sempre sabiam como chegar no local e sempre ajudavam.
Uma vez aconteceu isso e depois da diligência feita eu parei em um boteco. O carteiro estava lá tomando umas brejas. Já eram umas cinco ou seis da tarde e eu estava cansado de andar. Sentei à mesa com ele e começamos a conversar. Papo vai, papo vem, ele fez uma revelação:
- Eu tenho uma filha de nove anos fora do casamento. Só que a minha mulher não sabe...
Perguntei há quanto tempo eles estavam casados. Ele me respondeu que moravam junto há uns cinco ou seis anos. Então eu disse:
- Ué, por que você não contou para ela?
Aí ele me explicou que além do tempo em que moravam junto, teve um tempo de namoro, que ele ficou pegando as duas mulheres na mesma época. Contou o rolo todo, mas eu não prestei atenção nos detalhes, pois para mim o mais curioso era o fato dele contar a existência da filha para mim, que ele tinha concedido há menos de uma hora, e não contar para a mulher que divide a vida com ele.
No dia eu não entendi que ele queria apenas dividir a culpa que sentia por causa disso. Se eu dissesse que não tinha problema algum o cara ter uma filha fora do casamento sem a mulher saber, estaria tudo bem. Eu não cheguei a dizer isso, mas também não dei lição de moral no cara.
Quem eu conversava diariamente eram os cobradores de ônibus. A maioria deles não gostava do oficial de justiça. É que continua...
Marcadores:
correio,
investigador,
oficial de justiça,
polícia,
policiais,
prostitutas
terça-feira, 26 de maio de 2009
Uma necessária explicação aos leitores deste Blog
Quando algumas pessoas (inclusive do meio editorial) me sugeriram escrever sobre as minhas aventuras como oficial de justiça de uma vara criminal, a idéia era "romancear" um pouco os acontecimentos, "aumentar" os fatos, e criar um livro de literatura interessante para o leitor. Seria um livro escrito com os vários elementos de marketing editorial (escrever o que o leitor quer ler) para ser um sucesso de vendas.
Mas essa idéia desapareceu por completo logo no início do trabalho: eu comecei a escrever e vi que não precisava "romancear" nada, muito pelo contrário. Talvez eu tenha é que omitir algumas coisas! Situações nada abonadoras para pessoas famosas, por exemplo, é algo que ainda não sei como irei abordar (mesmo que eu não coloque o nome da pessoa, será fácil para o leitor mais esperto identificar de quem estou falando).
Também é delicado descrever como funcionava a corrupção, que envolvia pessoas de várias categorias profissionais. Isso será feito, embora com o cuidado de se evitar generalizações, tão a gosto da pauta atual da mídia.
Por que seria necessário "romancear" a atuação de um advogado de bandido rico plantando uma nulidade no processo? Ou uma delegacia de polícia com quarenta presos cumprindo pena em uma cela feita para abrigar provisoriamente apenas dois? Não é preciso "aumentar" nada, basta descrever os fatos exatamente do modo em que eles ocorreram.
Como não tenho a criatividade de Gabriel Garcia Márquez, nem o humor inteligente de Vargas Llosa, muito menos vou conseguir descrever prostitutas e cortiços com o lirismo de Jorge Amado, o jeito é fazer um livro com um discurso direto, tratando a realidade que vi sem usar metáforas ou eufemismos.
Mas essa idéia desapareceu por completo logo no início do trabalho: eu comecei a escrever e vi que não precisava "romancear" nada, muito pelo contrário. Talvez eu tenha é que omitir algumas coisas! Situações nada abonadoras para pessoas famosas, por exemplo, é algo que ainda não sei como irei abordar (mesmo que eu não coloque o nome da pessoa, será fácil para o leitor mais esperto identificar de quem estou falando).
Também é delicado descrever como funcionava a corrupção, que envolvia pessoas de várias categorias profissionais. Isso será feito, embora com o cuidado de se evitar generalizações, tão a gosto da pauta atual da mídia.
Por que seria necessário "romancear" a atuação de um advogado de bandido rico plantando uma nulidade no processo? Ou uma delegacia de polícia com quarenta presos cumprindo pena em uma cela feita para abrigar provisoriamente apenas dois? Não é preciso "aumentar" nada, basta descrever os fatos exatamente do modo em que eles ocorreram.
Como não tenho a criatividade de Gabriel Garcia Márquez, nem o humor inteligente de Vargas Llosa, muito menos vou conseguir descrever prostitutas e cortiços com o lirismo de Jorge Amado, o jeito é fazer um livro com um discurso direto, tratando a realidade que vi sem usar metáforas ou eufemismos.
Mães e pais de criminosos (continuação)
...continuação do Capítulo IV.
Em um caso não tive pena da mãe. Foi em um bairro muito pobre. Em uma casa imunda e fedorenta, perguntei se o réu estava. A mãe dele me disse que ele morava lá, mas não estava no momento. Eu então disse que voltaria mais tarde, no mesmo dia. Ela então falou de forma ríspida:
- Diga-me a hora exata em que você voltará. Ou você pensa que meu filho ficará o dia inteiro te esperando?
Eu poderia estar enganado, mas esse seria um caso em que a má criação teria produzido um bandido. Ao contrário de mães tristes e envergonhadas que normalmente eu encontrava, dessa vez eu estava diante de uma mãe grosseira e arrogante. Como eu estava já acostumado com essas situações, respondi calmamente:
- Senhora, eu não sei a hora exata que voltarei. Eu tenho muitos mandados para cumprir aqui no bairro. Eu posso certificar que não encontrei seu filho neste endereço e dar por encerrada a questão.
O fato é que voltei mais tarde no local e o rapaz estava me esperando. Ele recebeu a citação educadamente, disse que iria comparecer à audiência caso contrário daria “probrema”.
Encontrar mães das vítimas era bem menos comum. Era, evidentemente, uma situação igualmente triste. No meu caso havia uma vantagem: não era caso de morte, porque crimes dolosos contra a vida são de competência do Júri e eu trabalhava em uma vara criminal comum. Eu poderia ter casos envolvendo latrocínio (roubo seguido de morte) ou um homicídio culposo (sem intenção de matar). Mas, felizmente, não encontrei nenhuma mãe de vítima desses crimes.
Os pais tinham comportamento semelhante ao das mães. Mas ao menos em um caso me lembro de um pai dizendo que o filho “não prestava”. E ainda se referiu à naturalidade do filho, que era do mesmo Estado do Presidente da República da época, para dizer que os dois “não prestavam”.
Um caso interessante que envolveu um pai ocorreu no Jardim Paulista. O edifício em que eles moravam era de alto nível. Eu tinha de cumprir um mandado de prisão.
É isto mesmo: é expedido mandado de prisão para o Oficial de Justiça cumprir. Teoricamente, o Oficial de Justiça deveria, em caso de resistência à prisão, solicitar auxílio policial para cumprir o mandado. Só que ninguém fazia isso, simplesmente porque nesses casos o réu já tinha sumido há muito tempo. Por isso, entre os oficiais de justiça, era corrente o pensamento de que mandado de prisão era o mais fácil de todos: bastava ir até o local ver se o endereço existia de verdade e certificar que o réu não mais residia ou trabalhava mais no local.
Só que às vezes a coisa poderia ser diferente. Eu cheguei até o edifício e fui atendido pelo porteiro do prédio bacana. Como sempre fazia, perguntei pela pessoa, sem dar mais informações. Ele me olhou de um jeito desconfiado, perguntou quem eu era. Eu disse, simplesmente, que queria falar com o Sr. Fulano. O porteiro hesitou um pouco, interfonou para o apartamento do réu. O pai desceu e veio falar comigo de um jeito nada delicado:
- Posso saber do que se trata?
Eu me identifiquei como Oficial de Justiça e disse que tinha uma comunicação para entregar. Perguntei se o Sr. Fulano estava no apartamento, pois as intimações devem ser entregues pessoalmente, nem mesmo os pais poderiam receber.
O pai do réu insistiu que ele não estava no apartamento, bem como não sabia o paradeiro do filho. Eu desconfiei que ele estava mentido: ou o réu estava no apartamento ou o pai sabia onde ele estava. Afinal de contas, ou o pai estaria protegendo o filho ou não. Na última hipótese, ele iria abrir jogo, falar que o filho era mau caráter mesmo e que tinha ido para o local tal no ano tal e que não queria mais saber dele.
Fiquei conversando com o pai para ver qual procedimento adotar. Ele então me disse:
- Isso que está ocorrendo é um crime!
Surpreso, perguntei:
- Que crime?
- Um crime contra o meu filho. Depois de tanto tempo esse processo ainda existir!
Nesse momento minha suspeita se confirmou: o pai estaria protegendo o filho e, pelo visto, seria bem possível que ele estivesse no apartamento. Eu então tentei explicar que, em certos casos, o réu é condenado, mas cumpre a pena em liberdade. O pai então me disse:
- Acontece que meu filho já tem outra condenação, mais antiga ainda. Foi tudo culpa de uma sem vergonha que ele se envolveu!
O filhinho do papai era um “anjinho”, claro... Tudo culpa de uma sirigaita que levou o “ingênuo” rapaz para o “mau caminho”... O que fazer nessa situação? Colhi o nome e número do RG do pai. Certifiquei no mandado, simplesmente, que o pai do réu havia afirmado que o filho não se encontrava no local, mas que eu não tinha adentrado no apartamento para saber se isso era verdade. Devolvi o mandado em cartório. Eu é que não estava disposto a bancar o herói para prender um playboy imbecil.
Continua...
Marcadores:
crime,
oficial de justiça,
pais,
prisão
sexta-feira, 22 de maio de 2009
Parcial do Capítulo III - Bandidos, vítimas e testemunhas
...mais uma parte do Capítulo III...
- Às vezes ela (e apontou para a menina) também me bate, essas coisas acontecem, não é para parar na delegacia. Agora a mãe do namorado dela está numa boa e nós estamos ferrados! Você não acha isso um absurdo?
Continua....
Nem sempre os réus eram pessoas de classe baixa. Uma vez fui a uma casa de classe média para citar um réu. Tratava-se de uma pessoa que teria, digamos, exagerado ao dar um corretivo físico na enteada. A mãe da menina me recebeu e estava indignada, não com o padrasto que espancou sua filha, mas com a mãe do namorado da filha, que era a pessoa que tinha levado o caso à polícia. Estavam presentes a mãe indignada, o padrasto envergonhado e a menina constrangida. E eu, querendo apenas colher a assinatura do réu e ir embora o mais rápido possível.
Mas não foi fácil, a mãe na menina não me deixou sair e dizia:
- Às vezes ela (e apontou para a menina) também me bate, essas coisas acontecem, não é para parar na delegacia. Agora a mãe do namorado dela está numa boa e nós estamos ferrados! Você não acha isso um absurdo?
Fiz cara de paisagem como quem diz “quem sou eu para dizer o que está certo ou errado. Eu não acho nada, muito pelo contrário”...
Ela continuou tagarelando enquanto eu me dirigia para a porta, com o mandado já cumprido. Achei que era muito improvável que a menina pequena e magrinha que eu tinha visto pudesse espancar ou mesmo bater na mãe ou no padrasto. Mas se tem uma coisa que eu aprendi como oficial de justiça foi não duvidar de nada...
Alguns dias depois fui intimar a tal mãe do namorado, que era testemunha do caso. Também era uma casa de classe média, que deveria ter uma piscina, porque ela me recebeu de maiô, um traje de banho que algumas mulheres usavam naquela época, especialmente as gordas (embora não fosse o caso). Como sempre acontecia, a testemunha me pediu orientação a respeito do que ela deveria fazer. Na verdade, eu deveria apenas explicar o conteúdo do mandado, no caso, intimação para depoimento pessoal em audiência relativo ao processo tal, no dia tal, no Fórum Ministro Mário Guimarães, situado no Viaduto Dona Paulina, nº 80. Mas invariavelmente as pessoas queriam mais informações. Nesse caso, a mãe do namorado quis saber se o padrasto da menina estaria presente na audiência. Eu disse que provavelmente estaria, mas não tinha certeza (era verdade). Ela perguntou o que deveria fazer. Minha resposta foi, óbvio, que testemunha não precisa de advogado, mas que era poderia consultar algum advogado, inclusive caso houvesse interesse em constituir um assistente de acusação (na verdade, isso não seria possível, mas eu não sabia). Ela me respondeu “mas aí tem que pagar!...”. Eu disse que sim e, mandado cumprido, caí fora.
Citar réus e intimar vítimas e testemunhas de um mesmo caso era algo comum. Outro caso interessante envolvendo violência doméstica ocorreu em um conjunto de casas pobres situado na Consolação. Eu tinha de citar um réu e cheguei pela manhã no endereço indicado. Bati à porta e ninguém respondeu. Apareceu a vizinha que, em tom malicioso, me disse:
- Essa hora ela ainda não chegou...
Eu respondi:
- Não estou procurando ela, estou procurado ele, o senhor Fulano de tal. Será que ele se encontra?
A vizinha então me disse que ele estava preso no 4º Distrito Policial, que era perto de lá. No caso, o procedimento era me dirigir até o endereço informado para cumprir o mandado. Lá chegando, porém, fui informado que ele já tinha sido levado para um presídio. Ótimo, porque nesse caso eu não iria fazer a citação, pelos motivos que veremos no Capítulo __.
Algum tempo depois, com outro mandado, voltei ao mesmo endereço. Desta vez, o mandado era de intimação, para ela e não para ele. A mocinha estava dormindo quando eu cheguei. Ela estava de camisola, me convidou para entrar e, como sempre acontecia, me pediu explicações a respeito do processo. Ela era a vítima do caso. O réu, pessoa com a qual ela morava, teria colocado o revólver na cabeça dela e ameaçado matá-la, além, é claro, de ter lhe dado uns bons “petelecos”. A mocinha era, digamos, uma pessoa que exercia a profissão mais velha do mundo. Tentei explicar que ela era a vítima de um processo criminal e seu depoimento tinha sido pedido pelo promotor do caso. Foi uma tarefa difícil: ela simplesmente não entendia como poderia estar no processo contra a pessoa que, ao seu ver, era seu marido!
Ela me perguntou se eu teria encontrado o “marido” dela, o réu do processo. Eu disse que não, e contei que tinha sabido que ele estava preso por informação da vizinha. Ela então me respondeu:
- Essa fofoqueira. Foi por causa dela que eu briguei com meu amor.
Confesso que por essa eu não esperava: o cara senta a porrada na mulher e a culpa e da vizinha que a ajuda!
O fato é que eu tinha que terminar meu trabalho, que se resumia a colher a assinatura da vítima no mandado e entregar a papeleta com o nome dela, hora e local da audiência. O problema era explicar a ela o que era e como chegar até o fórum. Ela não entendia ou fingia não entender.
A cena, então, era esta: eu estava sentado em um colchão no chão junto com uma prostituta de classe baixa, que me olhava do jeito que as mulheres olham quando estão interessadas em um homem... Acho que é por isso que se diz “no Brasil, traficante é viciado e puta goza”! Não sei se esse ditado é verdade ou mentira, se é bom ou ruim, se é um elogio à alegria do povo brasileiro ou uma crítica à falta de profissionalismo supostamente existente nestas terras tropicais. O fato é que, mais uma vez, eu só queria colher a assinatura da rapariga e ir embora. Nessa altura do campeonato, ela tinha discretamente deixado a camisola subir um pouco, ficando com as pernas à mostra, enquanto eu fingia que nada percebia e desenhava um mapa no verso da papeleta para que ela pudesse chegar até o fórum no dia da audiência.
Algum tempo depois, por coincidência, eu estava lendo alguns processos no cartório quando me deparei com a sentença do caso. O réu tinha sido absolvido, simplesmente porque a vítima foi categórica na audiência ao dizer que nada tinha acontecido... Eu fiquei imaginando o que sente o Promotor em uma situação dessas: o cara estuda cinco anos em uma faculdade, rala à beça para passar no concurso, e como prêmio tem que denunciar um sujeito que espancou a mulher. Essa mulher na hora da audiência diz que é tudo mentira: o juiz julga improcedente a denúncia e todo o trabalho que o promotor teve com o caso vai por água abaixo. Já o cara que deu uns petelecos na mulher volta para casa e ela o recebe com, digamos, os braços abertos...
Quem é a vítima nesse caso: a mulher que foi espancada, a vizinha reputada como fofoqueira ou o promotor que trabalhou à toa? Possivelmente todos, inclusive a sociedade que paga os custos da máquina judiciária.
Continua....
Marcadores:
citação,
enteada,
intimação,
oficial de justiça,
padrasto,
réu,
violência doméstica
terça-feira, 19 de maio de 2009
Capítulo IV - Minha mãe, as mães dos bandidos e as mães das vítimas. Família, pobreza e criminalidade.
Eu saía de manhã para trabalhar e minha mãe, invariavelmente, estava dormindo. Mas eu tinha que ir acordar ela para me despedir. Ela sempre me perguntava:
- Vai fazer coisa perigosa?
Por fazer coisa perigosa entenda-se citar ou intimar bandidos. Eu então respondia:
- Não, mãe, hoje só tem advogado e testemunha.
Passei quase dois anos enganando a minha mãe com essa história. Se fosse verdade, os processos só teriam advogados e testemunhas, nunca réus... O fato é que essa mentira conseguia deixá-la tranqüila e ela voltava a dormir.
Todas as mães dos bandidos que conheci achavam que os filhos não tinham feito nada, que era tudo culpa dos amigos etc. A história das tais “más companhias” é verdade: elas sempre achavam que o filho apenas estava junto com os amigos que tinham cometido os crimes ou que ele fora influenciado pelos maus amigos. Às vezes a culpa era da namorada. Nunca do filho.
Um caso interessante ocorreu em um bairro de classe baixa, mas que não era dos piores. Eu fui citar o réu na casa dele e, lá chegando, fui atendido pela mãe e irmãos. Eles me explicaram que o réu estava preso, em razão de outro crime. Isso era razoavelmente comum.
Um caso interessante ocorreu em um bairro de classe baixa, mas que não era dos piores. Eu fui citar o réu na casa dele e, lá chegando, fui atendido pela mãe e irmãos. Eles me explicaram que o réu estava preso, em razão de outro crime. Isso era razoavelmente comum.
Ela então me disse:
- Você não vai mais nos encontrar neste endereço, porque nós vamos nos mudar para o Jardim Ângela, vamos alugar uma casa lá.
Surpreso, eu perguntei o motivo da mudança para um bairro bem mais afastado. Os irmãos me responderam que a casa estava sendo vendida para pagar o advogado. Eu já sabia que isso acontecia: em se tratando de crime, basta um dos filhos para desestruturar toda a família. As mães vendiam tudo que tinha dentro de casa (móveis, geladeira, fogão etc) para pagar o advogado que iria tentar livrar o filho da cadeia. No caso, essa família estava vendendo a casa. Talvez mantivessem a geladeira e o fogão.
A mãe do réu me perguntou se eu conhecia o advogado. Eu disse que sim e deixei escapar que o advogado era bom. Ela então me perguntou:
- Ele é um bom advogado mesmo?
Eu disse então que não sabia ou que não teria certeza. Ela então me disse:
- Eu ouvi você dizendo que ele era bom!
Sem querer, acho que fiz um bem para ela. Certamente aquela família iria dormir bem à noite, pois o Oficial de Justiça tinha dado boas referências do advogado que seria pago com o dinheiro da casa própria que estava sendo perdida. O fato é que eu realmente conhecia o advogado e sabia que ele era bom. Era um desses advogados velhinhos, muito esperto, com décadas no mesmo escritório no centro de São Paulo.
Ver mães de bandido chorando era algo comum. Os irmãos ficavam envergonhados, pediam desculpas etc. Eu realmente tinha pena das mães dos bandidos. Eu também tinha pena dos bandidos que sofriam na prisão, mas sabia que eles somente estavam lá em razão de terem cometido crimes. Só que as mães não tinham cometido crimes e possivelmente estariam sofrendo tanto ou mais que seus filhos. Talvez elas tivessem culpa por não ter criado os filhos corretamente. Hoje tenho a convicção de que em grande parte dos casos, talvez na maioria das vezes, as mães não têm culpa por terem um filho bandido: em um país com ainda gravíssimos problemas sociais, as chances das coisas não darem certo é muito grande. Para as mães que, em situação adversa, têm filhos honestos e trabalhadores, fica registrado os meus sinceros parabéns.
Para quem se interessa pelo tema da criação de filhos em uma situação adversa, recomendo o excelente filme nacional Linha de passe, dirigido por Walter Salles < http://www.paramountpictures.com.br/linhadepasse/> (mas é bom estar preparado para ver um filme forte, bem realista). Quando vi o filme, óbvio, lembrei da época em que fui Oficial de Justiça. A vida de muitas pessoas pobres em São Paulo pode ser muito parecida ou mesmo idêntica ao que o filme mostra. É claro que há inúmeras famílias pobres que são estruturadas, que os filhos vão à escola, progridem na vida etc, mas isso não dá filme ou notícia (e provavelmente não serão visitadas pelo Oficial de Justiça da vara criminal).
Sempre rejeitei a idéia de que “a violência é uma conseqüência da pobreza”, exatamente porque a maioria das pessoas pobres são honestas e trabalhadoras. E eu vi, muito, criminosos originários das classes média e alta. Culpar os pobres pela criminalidade é, realmente, uma ofensa ao povo brasileiro. Mas é indiscutível que a desigualdade social, a desestruturação familiar, o abandono, as más condições de vida, a falta de orientação são fatores que podem levar alguns indivíduos a cometerem crimes. A questão é complexa. Sob um aspecto, pode ser matemática: um percentual de indivíduos em uma determinada situação irá proceder de uma determinada maneira – o restante irá proceder de outra, óbvio. Em países como a Suécia, no qual o Estado tem um papel decisivo para efetivar políticas de bem-estar social, a criminalidade é baixa. Já em países como EUA, em que ainda vigora as teorias liberais, a criminalidade é proporcionalmente muito mais alta do que nos demais países ricos que adotam políticas sociais comprovadamente eficientes.
Em um caso não tive pena da mãe. Foi em um bairro muito pobre. Em uma casa imunda e fedorenta, perguntei se o réu estava. A mãe dele me disse que
continua...
Marcadores:
crime,
família,
oficial de justiça,
pobreza,
problema social
Assinar:
Comentários (Atom)