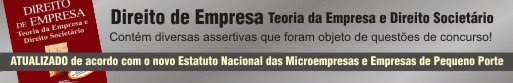A região de São Paulo que eu cumpria mandados abrangia todas as classes sociais, desde a favela mais pobre à mansão mais rica. Eu ia cumprir diligências nas várias favelas situadas nos extremos da zona sul de São Paulo, nos cortiços do centro, mas também ia às mansões do Jardim Europa ou do Morumbi.
O contato com pessoas de classe alta era freqüente. Em uma época em que carro importado era algo somente acessível às classes altas (não haviam carros coreanos no mercado e apenas importados de alto luxo eram vendidos no Brasil a uns poucos privilegiados), eu fui cumprir um mandado quando me deparei com uma linda casa, com dois carros importados visíveis na garagem.
A empregada doméstica atendeu à porta. Era uma mocinha novinha, meio feinha, mas toda sorridente. Eu perguntei pela pessoa que deveria ser intimada e ela me respondeu toda feliz:
- Ele está para chegar. Ele foi a Brasília, teve uma audiência com o Presidente Sarney, mas já ligou do aeroporto dizendo que está a caminho. Você não quer entrar e esperar ele?
Eu achei estranho a empregada doméstica convidar para entrar um cara que ela nunca tinha visto na vista. Como eu tinha outro mandado para cumprir em um endereço próximo, disse que voltaria dentro de uma hora.
E voltei mesmo. Atendeu a porta a mesma mocinha e disse que o patrão já tinha chegado. Ela então me levou em direção a uma porta situada na lateral da casa e eu pude ver que, além dos dois carros importados estacionados na frente da casa, havia mais outros quatro carros no fundo. Um deles ela uma Porsche, achei que era uma 911, mas não tive certeza.
Eu fiquei esperando em uma salinha, semelhante às salas de recepção de grandes escritórios de advocacia, destinadas aos clientes top. A sala estava decorada com magníficos quadros de barcos e era em estilo inglês antigo. Em suma, era um luxo.
Em alguns instantes, chegou a pessoa que eu deveria intimar. Era um coroa bronzeado, que na época eu achei que deveria ter uns quarenta anos, mas acho que deveria ter uns cinqüenta. Eu expliquei para ele do que se tratava, mas ele já sabia de tudo. Embora ele tivesse acabado de chegar de viagem, não parecia nem um pouco cansado.
Eu perguntei como estava o trânsito de Guarulhos para o centro, só para puxar papo. Ele então me disse, sem tentar esconder a vaidade, que tinha vindo em um avião particular e pousara em Congonhas. Falou também da audiência com o Presidente Sarney, mas não entrou em detalhes a respeito do conteúdo da audiência, disse apenas que era relativo a um problema relacionado com tributação. O cara, sem dúvida alguma, era top. Nenhum Zé Mané iria ter acesso ao Presidente da República. Como eu tinha visto a casa do cara e os carros do cara, concluí que a história era verdadeira.
Ele então me perguntou se clique aqui para continuar...
quarta-feira, 22 de julho de 2009
domingo, 19 de julho de 2009
O Carandiru e outros presídios (continuação)
... Continuação de O Carandiru e outros presídios.
Em um dado momento, nós estávamos intimando um grupo de “justiceiros”. O funcionário, que estava tranqüilo demais simplesmente porque estava realizando seu trabalho diário, soltou a seguinte frase em voz alta o suficiente para ser ouvida fora da sala:
- Tá precisando de uns “justiceiros” lá no meu bairro, porque tem muito bandido.
Justamente nessa hora estava chegando presos de um outro pavilhão, que perceberam na hora que nós estávamos com “justiceiros” na sala.
O funcionário que estava trazendo esses presos (que não estavam algemados, porque ninguém fica assim no presídio) percebeu que poderia dar merda e brecou imediatamente a entrada dos presos na sala.
Eu vi um justiceiro ficar branco de medo. Parecia que o cara iria desmaiar. O funcionário que estava na sala comigo se levantou da cadeira rapidamente e foi até a porta. Disse em tom imperativo:
- Ninguém entra nem sai da sala!
Os presos que estavam do lado de fora ficaram se olhando, como quem pergunta o que deveria ser feito naquele momento. Com exceção dos “justiceiros” (óbvio), o mais amedrontado era eu, porque eu já tinha lido alguma vez que na hora que dá merda no presídio, a primeira coisa que é feita pelos presos é obrigar o refém a trocar de calça com ele. Depois disso tudo pode acontecer.
Nós estávamos em grande desvantagem numérica: eu e dois funcionários. Do lado de fora, além dos presos trazidos pelo funcionário que sabiam que a sala estava com um grupo de “justiceiros”, havia um número imenso de outros presos trabalhando. Se desse merda, eu, que não era conhecido como funcionário no presídio, seria confundido com um preso pela Polícia Militar, caso algum preso tomasse a minha calça.
Um dos presos do grupo que estava do lado de fora deu um passo à frente, em uma expressão desafiadora, em direção à porta da sala. O funcionário que estava comigo gritou com ele:
- Já mandei voltar, porra!
Nessa hora outro preso puxou o preso que tinha dado um passo à frente pelo ombro. Eu ouvi alguém gritar algo como “pára que vai dar merda”, não sei se foi o funcionário ou outro preso.
Nisso chegaram não sei de onde outras pessoas sem calça caqui e mandaram suspender temporariamente as intimações. Os presos do grupo que estava do lado de fora foram levados para outro local e somente iriam ser intimados ao final. Os “justiceiros” foram “escoltados” por alguns agentes para fora da sala, em direção às suas celas.
Nessa altura eu estava, digamos, um pouco nervoso com o que tinha presenciado. Olhei para o funcionário. Ele estava calmo e fez um comentário absolutamente trivial. Na hora eu fiquei na dúvida se ele estava fingindo ou se estava realmente calmo, como se a situação em nenhum momento tivesse saído do controle. Eu então perguntei:
- É todo dia assim?
Ele me respondeu, quase dando risada, percebendo meu humor alterado:
- É que não pode misturar “justiceiros” com os outros presos, pode dar merda.
Eu fiz cara de quem diz “isso é óbvio” e insisti na pergunta. Ele então me disse:
- Oficial, isso que você viu não foi nada!..
Foi aí que ele me explicou a história dos “caceteiros”, de que quando vai ter rebelião os “bons funcionários” ficam sabendo antes etc. Só nesse momento eu percebi que, realmente, não havia a menor possibilidade de eu virar refém no Carandiru, simplesmente porque naquele dia as coisas estavam tranqüilas e, sendo assim, os presos obedecem todas as ordens dos funcionários.
Ele me contou mais algumas coisas a respeito do Carandiru e recomeçamos as intimações. Foi nesse dia que vi um preso que não era pobre: era um advogado que tinha sido condenado por falsificação de escritura pública, relativo a um caso que eu tinha feito uma intimação em um belo apartamento situado no centro de São Paulo, próximo à Praça da República. Com exceção desse preso, todos os demais presos que vi naquele dia eram pessoas pobres. Fiquei com impressão de que, no Brasil, rico nunca vai para a cadeia. Na época, comentei essa impressão com um colega oficial de justiça e ele me disse, com uma certa amargura, que pensava a mesma coisa. Recentemente, com o “episódio Daniel Dantas”, lembrei-me disso.
Depois de fazer as intimações no Carandiru, fui para a Penitenciária do Estado. Fiz algumas intimações em uma sala grande, na qual estava um policial civil ouvindo umas histórias de um preso simpático, que me pareceram inverossímeis. O policial, porém, parecia estar se divertindo e acreditando nessas histórias. Lá foi bem tranqüilo e não houve qualquer incidente.
Fui até a enfermaria intimar um único preso. Essa ala da Penitenciária era formada por um corredor com celas em ambos os lados. Essas celas tinham duas camas cada uma e estavam com as portas abertas, simplesmente porque era a ala dos presos com AIDS, já em estado terminal.
Um funcionário estúpido, dando risada, entrou em uma das celas e retirou o cobertor de um preso que estava deitado em uma das camas, para que eu pudesse ver um preso aidético. O preso estava nu, com as pernas totalmente pretas, como se estivessem queimadas (imagine uma pessoa carbonizada: era exatamente o que vi).
Foi a cena mais chocante que presenciei como oficial de justiça. Não apenas a situação de um ser humano em completa desintegração física, consumido pela AIDS, como o ato do funcionário que parecia estar fazendo algo divertido. Eu estava vendo de perto o lado podre do mundo.
Cheguei até a cela em que eu deveria intimar um preso. Ele nada perguntou, somente assinou o mandado. Um outro funcionário comentou comigo que achava uma tolice correr um processo contra alguém nessas condições. Eu concordei, pois certamente o réu iria morrer antes do fim do processo.
Nesse dia fui para um outro presídio, que não me lembro o nome. A parte interessante desse outro presídio foi ter entrado junto com o motorista, que fez o papel do funcionário experiente do Carandiru: ele (e não eu) fez todas as intimações e orientou cada preso a recorrer ou a não recorrer, dependendo do caso. Novamente eu fiquei só do lado do sujeito, prestando atenção para aprender alguma coisa. O motorista me contou que há muito tempo ele fazia isso, que já estava acostumado.
Continua...
Em um dado momento, nós estávamos intimando um grupo de “justiceiros”. O funcionário, que estava tranqüilo demais simplesmente porque estava realizando seu trabalho diário, soltou a seguinte frase em voz alta o suficiente para ser ouvida fora da sala:
- Tá precisando de uns “justiceiros” lá no meu bairro, porque tem muito bandido.
Justamente nessa hora estava chegando presos de um outro pavilhão, que perceberam na hora que nós estávamos com “justiceiros” na sala.
O funcionário que estava trazendo esses presos (que não estavam algemados, porque ninguém fica assim no presídio) percebeu que poderia dar merda e brecou imediatamente a entrada dos presos na sala.
Eu vi um justiceiro ficar branco de medo. Parecia que o cara iria desmaiar. O funcionário que estava na sala comigo se levantou da cadeira rapidamente e foi até a porta. Disse em tom imperativo:
- Ninguém entra nem sai da sala!
Os presos que estavam do lado de fora ficaram se olhando, como quem pergunta o que deveria ser feito naquele momento. Com exceção dos “justiceiros” (óbvio), o mais amedrontado era eu, porque eu já tinha lido alguma vez que na hora que dá merda no presídio, a primeira coisa que é feita pelos presos é obrigar o refém a trocar de calça com ele. Depois disso tudo pode acontecer.
Nós estávamos em grande desvantagem numérica: eu e dois funcionários. Do lado de fora, além dos presos trazidos pelo funcionário que sabiam que a sala estava com um grupo de “justiceiros”, havia um número imenso de outros presos trabalhando. Se desse merda, eu, que não era conhecido como funcionário no presídio, seria confundido com um preso pela Polícia Militar, caso algum preso tomasse a minha calça.
Um dos presos do grupo que estava do lado de fora deu um passo à frente, em uma expressão desafiadora, em direção à porta da sala. O funcionário que estava comigo gritou com ele:
- Já mandei voltar, porra!
Nessa hora outro preso puxou o preso que tinha dado um passo à frente pelo ombro. Eu ouvi alguém gritar algo como “pára que vai dar merda”, não sei se foi o funcionário ou outro preso.
Nisso chegaram não sei de onde outras pessoas sem calça caqui e mandaram suspender temporariamente as intimações. Os presos do grupo que estava do lado de fora foram levados para outro local e somente iriam ser intimados ao final. Os “justiceiros” foram “escoltados” por alguns agentes para fora da sala, em direção às suas celas.
Nessa altura eu estava, digamos, um pouco nervoso com o que tinha presenciado. Olhei para o funcionário. Ele estava calmo e fez um comentário absolutamente trivial. Na hora eu fiquei na dúvida se ele estava fingindo ou se estava realmente calmo, como se a situação em nenhum momento tivesse saído do controle. Eu então perguntei:
- É todo dia assim?
Ele me respondeu, quase dando risada, percebendo meu humor alterado:
- É que não pode misturar “justiceiros” com os outros presos, pode dar merda.
Eu fiz cara de quem diz “isso é óbvio” e insisti na pergunta. Ele então me disse:
- Oficial, isso que você viu não foi nada!..
Foi aí que ele me explicou a história dos “caceteiros”, de que quando vai ter rebelião os “bons funcionários” ficam sabendo antes etc. Só nesse momento eu percebi que, realmente, não havia a menor possibilidade de eu virar refém no Carandiru, simplesmente porque naquele dia as coisas estavam tranqüilas e, sendo assim, os presos obedecem todas as ordens dos funcionários.
Ele me contou mais algumas coisas a respeito do Carandiru e recomeçamos as intimações. Foi nesse dia que vi um preso que não era pobre: era um advogado que tinha sido condenado por falsificação de escritura pública, relativo a um caso que eu tinha feito uma intimação em um belo apartamento situado no centro de São Paulo, próximo à Praça da República. Com exceção desse preso, todos os demais presos que vi naquele dia eram pessoas pobres. Fiquei com impressão de que, no Brasil, rico nunca vai para a cadeia. Na época, comentei essa impressão com um colega oficial de justiça e ele me disse, com uma certa amargura, que pensava a mesma coisa. Recentemente, com o “episódio Daniel Dantas”, lembrei-me disso.
Depois de fazer as intimações no Carandiru, fui para a Penitenciária do Estado. Fiz algumas intimações em uma sala grande, na qual estava um policial civil ouvindo umas histórias de um preso simpático, que me pareceram inverossímeis. O policial, porém, parecia estar se divertindo e acreditando nessas histórias. Lá foi bem tranqüilo e não houve qualquer incidente.
Fui até a enfermaria intimar um único preso. Essa ala da Penitenciária era formada por um corredor com celas em ambos os lados. Essas celas tinham duas camas cada uma e estavam com as portas abertas, simplesmente porque era a ala dos presos com AIDS, já em estado terminal.
Um funcionário estúpido, dando risada, entrou em uma das celas e retirou o cobertor de um preso que estava deitado em uma das camas, para que eu pudesse ver um preso aidético. O preso estava nu, com as pernas totalmente pretas, como se estivessem queimadas (imagine uma pessoa carbonizada: era exatamente o que vi).
Foi a cena mais chocante que presenciei como oficial de justiça. Não apenas a situação de um ser humano em completa desintegração física, consumido pela AIDS, como o ato do funcionário que parecia estar fazendo algo divertido. Eu estava vendo de perto o lado podre do mundo.
Cheguei até a cela em que eu deveria intimar um preso. Ele nada perguntou, somente assinou o mandado. Um outro funcionário comentou comigo que achava uma tolice correr um processo contra alguém nessas condições. Eu concordei, pois certamente o réu iria morrer antes do fim do processo.
Nesse dia fui para um outro presídio, que não me lembro o nome. A parte interessante desse outro presídio foi ter entrado junto com o motorista, que fez o papel do funcionário experiente do Carandiru: ele (e não eu) fez todas as intimações e orientou cada preso a recorrer ou a não recorrer, dependendo do caso. Novamente eu fiquei só do lado do sujeito, prestando atenção para aprender alguma coisa. O motorista me contou que há muito tempo ele fazia isso, que já estava acostumado.
Continua...
Marcadores:
AIDS,
carandiru,
justiceiros,
oficial de justiça,
penitenciária,
presídio
sábado, 11 de julho de 2009
Capítulo 21 - Os desafios seguintes.
Depois da viagem para a Europa, terminou a parte “a liberdade que o dinheiro proporciona” (Capítulo __). Depois de dois meses gastando dinheiro no velho mundo, eu estava quase a zero em termos de grana. Pouco tempo depois assumi o cargo de escrevente no 20º Ofício Cível, no Fórum João Mendes, para o espanto das pessoas que não entendiam como alguém poderia deixar de ser Oficial de Justiça para ser escrevente. Mas, além de estar com pouco dinheiro, eu queria aprender processo civil.
E realmente aprendi muito na prática. Era muito bom, porque eu estava tendo na Faculdade a disciplina Teoria Geral do Processo, com os excelentes professores Vicente Greco Filho e Antônio Cláudio da Costa Machado, e vendo processo civil na prática durante o dia todo. Isso meu deu uma bela formação. Na verdade, o forte da São Francisco era direito processual. Nesse campo, estávamos mais avançados até que os europeus. Não é para menos: em um país com forte tradição contenciosa é natural que seja assim.
Fiquei uns cinco ou seis meses como escrevente do 20º Ofício Cível do Foro Central. Tinha conseguido poupar um dinheirinho, suficiente para me manter sem trabalhar durante algum tempo. Cheguei a fazer estágio em duas empresas e passei nos concursos de auxiliar judiciário (atualmente se chama “técnico judiciário”) da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal. Fui convocado em ambos. Assumi primeiro o da Justiça do Trabalho, mas fiquei pouquíssimo tempo. A rotinha era assim: ganhava a experiência decorrente do trabalho, gastava bem menos do recebia de salário e ficava um tempinho sem trabalhar. O último cargo que assumi antes de formado foi no Gabinete de um Juiz do Tribunal Regional Federal da 3ª. Região, que na época ficava ao lado da Faculdade. Foi relativamente tranqüilo trabalhar lá.
No quinto ano da Faculdade eu estudei bem mais do que nos quatro anos anteriores. Eu simplesmente morria de medo de não passar em alguma matéria e não me formar. Durante muitos anos, tive um pesadelo: teria faltado uma matéria e eu não tinha me formado. Comentei isso com algumas pessoas, que também passaram pela experiência de ter esse sonho doido, decorrente, óbvio, do medo que nós sentíamos de não nos formar no quinto ano de faculdade.
Para quem tinha papai rico, não se formar no quinto ano não seria problema. Mas para quem estava precisando desesperadamente ganhar a vida, concluir o curso e passar na OAB era uma necessidade imperiosa. Era, sem dúvida, a coisa mais importante no ano. Por isso praticamente não tive vida acadêmica na Faculdade: eu apenas trabalhava, assistia às aulas (eu tinha caderno e anotava), estudava em casa e saía com a namorada. Mais nada.
Não fui na festa de formatura, clique aqui para continuar...
E realmente aprendi muito na prática. Era muito bom, porque eu estava tendo na Faculdade a disciplina Teoria Geral do Processo, com os excelentes professores Vicente Greco Filho e Antônio Cláudio da Costa Machado, e vendo processo civil na prática durante o dia todo. Isso meu deu uma bela formação. Na verdade, o forte da São Francisco era direito processual. Nesse campo, estávamos mais avançados até que os europeus. Não é para menos: em um país com forte tradição contenciosa é natural que seja assim.
Fiquei uns cinco ou seis meses como escrevente do 20º Ofício Cível do Foro Central. Tinha conseguido poupar um dinheirinho, suficiente para me manter sem trabalhar durante algum tempo. Cheguei a fazer estágio em duas empresas e passei nos concursos de auxiliar judiciário (atualmente se chama “técnico judiciário”) da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal. Fui convocado em ambos. Assumi primeiro o da Justiça do Trabalho, mas fiquei pouquíssimo tempo. A rotinha era assim: ganhava a experiência decorrente do trabalho, gastava bem menos do recebia de salário e ficava um tempinho sem trabalhar. O último cargo que assumi antes de formado foi no Gabinete de um Juiz do Tribunal Regional Federal da 3ª. Região, que na época ficava ao lado da Faculdade. Foi relativamente tranqüilo trabalhar lá.
No quinto ano da Faculdade eu estudei bem mais do que nos quatro anos anteriores. Eu simplesmente morria de medo de não passar em alguma matéria e não me formar. Durante muitos anos, tive um pesadelo: teria faltado uma matéria e eu não tinha me formado. Comentei isso com algumas pessoas, que também passaram pela experiência de ter esse sonho doido, decorrente, óbvio, do medo que nós sentíamos de não nos formar no quinto ano de faculdade.
Para quem tinha papai rico, não se formar no quinto ano não seria problema. Mas para quem estava precisando desesperadamente ganhar a vida, concluir o curso e passar na OAB era uma necessidade imperiosa. Era, sem dúvida, a coisa mais importante no ano. Por isso praticamente não tive vida acadêmica na Faculdade: eu apenas trabalhava, assistia às aulas (eu tinha caderno e anotava), estudava em casa e saía com a namorada. Mais nada.
Não fui na festa de formatura, clique aqui para continuar...
sábado, 4 de julho de 2009
Capítulo 2 - O concurso público: de filhinho de papai (adolescência) a Oficial de Justiça (fase adulta).
Eu nunca me considerei um filhinho de papai ou um playboy. Mas eu morava na região da Paulista, tinha feito todos os estudos em escola particular e nunca tinha trabalhado. Como se dizia na época, eu “trabalhava” na VASP – Vagabundos Anônimos Sustentados pelo Pai (VASP era uma companhia de aviação pertencente ao Estado de São Paulo que foi “privatizada” e faliu algum tempo depois).
Para alguém que fosse pobre, para alguém que morava na Zona Leste ou na periferia de São Paulo, eu simplesmente era um playboy ou burguesinho em razão de ser de classe média ou em razão do lugar da cidade em que vivia.
O fato é que eu estava longe de ser um desses adolescentes enturmados, com uma galera grande, que fazem altas farras e têm grana para gastar. Meu pai sempre deixava claro que eu teria que me virar para um dia ter um emprego decente. Não faltava nada na minha casa, mas dinheiro para o lazer era algo muito limitado. Além disso, o fato de estar há pouco tempo em São Paulo ainda me deixava deslocado. Eu até saía para alguma balada de vez em quando, tinha alguns amigos, mas nenhum deles também poderia ser enquadrado com “filhinho de papai” ou playboy. Eu não achava que a minha vida era boa. Mas tudo isso era uma questão de ponto de vista: algumas pessoas poderão achar que minha vida na época era fácil, tranqüila e feliz, com um lar estruturado e com pais que foram determinantes para minha formação moral e profissional.
Seja como for, eu achava que na Faculdade as coisas iria melhorar, o que era uma coisa motivadora. E eu queria estudar na USP. Para mim, era ponto de honra estudar na Faculdade de Direito do Largo São Francisco (USP), não só porque era a melhor Faculdade de Direito do país (mais tarde voltarei a esse ponto, no Capítulo __), mas sobretudo porque era grátis. Pagar faculdade era algo que, definitivamente, não estava nos meus planos. Ao contrário do que todo mundo fazia, em 1988 eu me inscrevi apenas no vestibular para a USP (realizado pela FUVEST) e em nenhum outro. Seria USP ou nada. Morar em São Paulo e não estudar na USP era algo que para mim estava fora de cogitação: para mim, simplesmente não fazia sentido viver em uma cidade como São Paulo e não estudar na USP. Eu não gostava de São Paulo, mas, se morava lá, tinha de extrair algo de bom. E isso se traduzia em estudar na USP. Era a lógica que eu tinha na época.
Só que eu bombei (no vocabulário da época, bombar significava ser reprovado) no vestibular. Ironicamente, minha reprovação decorreu de uma nota ruim em redação. Foi um duro golpe, especialmente porque eu sempre ia bem em redação!
Logo depois de ter sido reprovado no vestibular e antes de ter aberto o concurso para Oficial de Justiça, eu tentei arrumar emprego em um banco e em um supermercado. Em ambos fui sumariamente descartado (por coincidência, hoje sou correntista desse banco e, quando oficial de justiça, levei uma sentença condenatória em razão de venda produto estragado para o gerente do supermercado).
Eu estava em casa, sem saber o que fazer, com o astral muito baixo. Hoje sei que, naquela época, eu estava próximo de uma depressão.
Aí abriu o concurso de Oficial de Justiça da Justiça Estadual, que só exigia o segundo grau. Eu comprei uma apostila que era composta basicamente das leis que cairiam no referido concurso (naquele tempo não existia internet) e de algumas regras gramaticais. Comecei a estudar, de modo a me familiarizar com os termos legais e compreender o sentido de cada artigo de lei. Foi um estudo assistemático, um singelo processo de acumulação de conteúdo sem qualquer base teórica. Pela primeira vez na minha vida, eu estudei a sério: ficava de manhã, de tarde e de noite decorando a apostila que eu tinha comprado na banca de jornal.
Tenho certeza absoluta que só estudei daquele jeito porque eu estava achando minha vida uma merda, porque eu estava me achando um bosta e a esperança que eu tinha era passar no concurso de Oficial de Justiça. Por isso costumo dizer que minha carreira começou no dia em que eu não passei no vestibular: foi em razão da minha reprovação no vestibular que eu fui estudar para o concurso de Oficial de Justiça.
Além disso, como quase todo menino dessa idade, eu não sabia exatamente que faculdade queria ou deveria cursar: o estudo e eventual trabalho como oficial de justiça iriam me possibilitar saber se a escolha de cursar direito era uma boa decisão.
Eu até gostei de estudar leis, mas um dia iria descobrir que a teoria do Direito é muito mais interessante. Estudo da lei seca, para quem nunca estudou direito, pode ser muito difícil. Eu comprei um dicionário jurídico, mas não ajudou muito. Por incrível que pareça, o que me fez compreender o significado de vários termos legais foi o dicionário comum. Uma amiga da minha mãe, que era advogada, também me ajudou nessa parte.
Felizmente, só foi divulgada a relação candidato por vaga em data próxima à da prova: como eram 330 candidatos por vaga, e eu teria desistido de estudar para esse concurso e optaria por estudar para o vestibular que, embora distante, me pareceria mais viável.
Mas o fato é que eu não desisti de estudar para o concurso de Oficial de Justiça. O dia da prova foi terrível: eu cheguei à escola em que deveria fazer a prova, vi um monte de gente, e calculei que nas outras escolas estava acontecendo o mesmo. Fiquei pensado porque eu passaria no concurso, se tinham tantos outros candidatos disputando as vagas... Para piorar, fui o primeiro da sala a terminar a prova, o que me deu a impressão de que eu tinha ido muito mal. Fui para casa com uma sensação de derrota, achando que mais uma vez eu iria perder o jogo.
Eu me lembro exatamente do dia em que saiu o resultado do concurso para Oficial de Justiça: no dia divulgado, eu fui para a porta do edifício em que funcionava a parte administrativa da Justiça Estadual, situado na Rua da Consolação, aguardar que o resultado fosse afixado na parte de fora do prédio. Lá estavam mais uns vinte ou trinta candidatos, todos ansiosos, e correu um boato que o número de vagas tinha aumentado de cem para mil. Nesse dia eu estava muito esperançoso, achando que tinha chances de ter passado.
Eu pulei (literalmente) de alegria quando vi meu nome na lista dos aprovados, entre os cem primeiros colocados. Voltei para casa, dei a notícia para minha mãe. Se tinha uma coisa que eu gostava era deixar minha mãe feliz. E meu pai ficaria com orgulho de mim.
Pouco tempo depois eu estaria trabalhando como oficial de justiça da 14ª. Vara Criminal da Comarca da Capital do Estado de São Paulo. E, no mesmo ano, fui aprovado no vestibular da Faculdade de Direito da USP (em 19º lugar em mais de dez mil candidatos). E mais: com nota dez em redação! Fiquei com a alma lavada.
Também me lembro exatamente do momento em que vi o resultado do vestibular: era um fim de tarde, eu estava na Praça da Sé, tinha cumprido uns mandados no centro e comprei uma dessas edições especiais de jornal que trazia o resultado do vestibular. Em pé, no meio do barulho da multidão, procurei e achei meu nome na lista dos aprovados para o curso de Direito. Olhei de novo, para ter certeza de que era meu nome mesmo. Eu não podia acreditar que, em menos de um ano, minha vida tinha virado completamente.
Voltei para casa e minha mãe já tinha visto o resultado e estava radiante. Fui comemorar com meus pais no Terraço Itália, um ótimo restaurante situado na parte de cima do Edifício Itália, um local onde é possível ver uma grande parte da cidade de São Paulo. Eu comi um prato à base de carne de porco nesse dia. O Terraço Itália até hoje é um lugar especial para mim.
Mas nem tudo eram ou seriam flores. O trabalho como Oficial de Justiça não era maravilhoso. Era duro, difícil. Ter contato diário com a pobreza, com a miséria, com pessoas relacionadas com crimes, não era nem um pouco agradável. Foi por causa do trabalho que eu deixei de ser adolescente e passei à fase adulta. Assim, minha adolescência terminou a fórceps.
Para alguém que fosse pobre, para alguém que morava na Zona Leste ou na periferia de São Paulo, eu simplesmente era um playboy ou burguesinho em razão de ser de classe média ou em razão do lugar da cidade em que vivia.
O fato é que eu estava longe de ser um desses adolescentes enturmados, com uma galera grande, que fazem altas farras e têm grana para gastar. Meu pai sempre deixava claro que eu teria que me virar para um dia ter um emprego decente. Não faltava nada na minha casa, mas dinheiro para o lazer era algo muito limitado. Além disso, o fato de estar há pouco tempo em São Paulo ainda me deixava deslocado. Eu até saía para alguma balada de vez em quando, tinha alguns amigos, mas nenhum deles também poderia ser enquadrado com “filhinho de papai” ou playboy. Eu não achava que a minha vida era boa. Mas tudo isso era uma questão de ponto de vista: algumas pessoas poderão achar que minha vida na época era fácil, tranqüila e feliz, com um lar estruturado e com pais que foram determinantes para minha formação moral e profissional.
Seja como for, eu achava que na Faculdade as coisas iria melhorar, o que era uma coisa motivadora. E eu queria estudar na USP. Para mim, era ponto de honra estudar na Faculdade de Direito do Largo São Francisco (USP), não só porque era a melhor Faculdade de Direito do país (mais tarde voltarei a esse ponto, no Capítulo __), mas sobretudo porque era grátis. Pagar faculdade era algo que, definitivamente, não estava nos meus planos. Ao contrário do que todo mundo fazia, em 1988 eu me inscrevi apenas no vestibular para a USP (realizado pela FUVEST) e em nenhum outro. Seria USP ou nada. Morar em São Paulo e não estudar na USP era algo que para mim estava fora de cogitação: para mim, simplesmente não fazia sentido viver em uma cidade como São Paulo e não estudar na USP. Eu não gostava de São Paulo, mas, se morava lá, tinha de extrair algo de bom. E isso se traduzia em estudar na USP. Era a lógica que eu tinha na época.
Só que eu bombei (no vocabulário da época, bombar significava ser reprovado) no vestibular. Ironicamente, minha reprovação decorreu de uma nota ruim em redação. Foi um duro golpe, especialmente porque eu sempre ia bem em redação!
Logo depois de ter sido reprovado no vestibular e antes de ter aberto o concurso para Oficial de Justiça, eu tentei arrumar emprego em um banco e em um supermercado. Em ambos fui sumariamente descartado (por coincidência, hoje sou correntista desse banco e, quando oficial de justiça, levei uma sentença condenatória em razão de venda produto estragado para o gerente do supermercado).
Eu estava em casa, sem saber o que fazer, com o astral muito baixo. Hoje sei que, naquela época, eu estava próximo de uma depressão.
Aí abriu o concurso de Oficial de Justiça da Justiça Estadual, que só exigia o segundo grau. Eu comprei uma apostila que era composta basicamente das leis que cairiam no referido concurso (naquele tempo não existia internet) e de algumas regras gramaticais. Comecei a estudar, de modo a me familiarizar com os termos legais e compreender o sentido de cada artigo de lei. Foi um estudo assistemático, um singelo processo de acumulação de conteúdo sem qualquer base teórica. Pela primeira vez na minha vida, eu estudei a sério: ficava de manhã, de tarde e de noite decorando a apostila que eu tinha comprado na banca de jornal.
Tenho certeza absoluta que só estudei daquele jeito porque eu estava achando minha vida uma merda, porque eu estava me achando um bosta e a esperança que eu tinha era passar no concurso de Oficial de Justiça. Por isso costumo dizer que minha carreira começou no dia em que eu não passei no vestibular: foi em razão da minha reprovação no vestibular que eu fui estudar para o concurso de Oficial de Justiça.
Além disso, como quase todo menino dessa idade, eu não sabia exatamente que faculdade queria ou deveria cursar: o estudo e eventual trabalho como oficial de justiça iriam me possibilitar saber se a escolha de cursar direito era uma boa decisão.
Eu até gostei de estudar leis, mas um dia iria descobrir que a teoria do Direito é muito mais interessante. Estudo da lei seca, para quem nunca estudou direito, pode ser muito difícil. Eu comprei um dicionário jurídico, mas não ajudou muito. Por incrível que pareça, o que me fez compreender o significado de vários termos legais foi o dicionário comum. Uma amiga da minha mãe, que era advogada, também me ajudou nessa parte.
Felizmente, só foi divulgada a relação candidato por vaga em data próxima à da prova: como eram 330 candidatos por vaga, e eu teria desistido de estudar para esse concurso e optaria por estudar para o vestibular que, embora distante, me pareceria mais viável.
Mas o fato é que eu não desisti de estudar para o concurso de Oficial de Justiça. O dia da prova foi terrível: eu cheguei à escola em que deveria fazer a prova, vi um monte de gente, e calculei que nas outras escolas estava acontecendo o mesmo. Fiquei pensado porque eu passaria no concurso, se tinham tantos outros candidatos disputando as vagas... Para piorar, fui o primeiro da sala a terminar a prova, o que me deu a impressão de que eu tinha ido muito mal. Fui para casa com uma sensação de derrota, achando que mais uma vez eu iria perder o jogo.
Eu me lembro exatamente do dia em que saiu o resultado do concurso para Oficial de Justiça: no dia divulgado, eu fui para a porta do edifício em que funcionava a parte administrativa da Justiça Estadual, situado na Rua da Consolação, aguardar que o resultado fosse afixado na parte de fora do prédio. Lá estavam mais uns vinte ou trinta candidatos, todos ansiosos, e correu um boato que o número de vagas tinha aumentado de cem para mil. Nesse dia eu estava muito esperançoso, achando que tinha chances de ter passado.
Eu pulei (literalmente) de alegria quando vi meu nome na lista dos aprovados, entre os cem primeiros colocados. Voltei para casa, dei a notícia para minha mãe. Se tinha uma coisa que eu gostava era deixar minha mãe feliz. E meu pai ficaria com orgulho de mim.
Pouco tempo depois eu estaria trabalhando como oficial de justiça da 14ª. Vara Criminal da Comarca da Capital do Estado de São Paulo. E, no mesmo ano, fui aprovado no vestibular da Faculdade de Direito da USP (em 19º lugar em mais de dez mil candidatos). E mais: com nota dez em redação! Fiquei com a alma lavada.
Também me lembro exatamente do momento em que vi o resultado do vestibular: era um fim de tarde, eu estava na Praça da Sé, tinha cumprido uns mandados no centro e comprei uma dessas edições especiais de jornal que trazia o resultado do vestibular. Em pé, no meio do barulho da multidão, procurei e achei meu nome na lista dos aprovados para o curso de Direito. Olhei de novo, para ter certeza de que era meu nome mesmo. Eu não podia acreditar que, em menos de um ano, minha vida tinha virado completamente.
Voltei para casa e minha mãe já tinha visto o resultado e estava radiante. Fui comemorar com meus pais no Terraço Itália, um ótimo restaurante situado na parte de cima do Edifício Itália, um local onde é possível ver uma grande parte da cidade de São Paulo. Eu comi um prato à base de carne de porco nesse dia. O Terraço Itália até hoje é um lugar especial para mim.
Mas nem tudo eram ou seriam flores. O trabalho como Oficial de Justiça não era maravilhoso. Era duro, difícil. Ter contato diário com a pobreza, com a miséria, com pessoas relacionadas com crimes, não era nem um pouco agradável. Foi por causa do trabalho que eu deixei de ser adolescente e passei à fase adulta. Assim, minha adolescência terminou a fórceps.
Marcadores:
adolescência,
concurso,
fase adulta,
oficial de justiça,
prova,
vestibular
quinta-feira, 2 de julho de 2009
11 - O Carandiru e outros presídios.
Quando eu comecei a escrever este livro, usei em um dos primeiros capítulos a expressão “naquele tempo não havia central de mandados” porque imaginava que a piora do trânsito em São Paulo teria de levar, necessariamente, à criação de central de mandados, tal como existe em Brasília e em outras cidades. Depois descobri que isso não aconteceu...
Contudo, já naquela época, para realizar citações e intimações de pessoas presas em presídios do Estado (não em delegacias), havia uma central de mandados: todo dia um oficial de uma das varas criminais iria cumprir os mandados de todas as varas em todos os presídios situados na Comarca da Capital (entenda-se: situados no Município de São Paulo).
Isso era chamado de rodízio: íamos com o motorista do fórum fazer as diligências nos vários presídios. Por esse motivo, conheci todos os presídios situados na cidade de São Paulo, bem como várias das suas peculiaridades. Evidentemente, visitar presídios não era nem um pouco agradável.
O famoso Carandiru, que foi tema de um filme exageradamente romanceado (mostrou o presídio como se fosse uma festa...) e hoje não mais existe, foi o primeiro presídio que eu visitei. Foi logo que comecei a trabalhar como oficial de justiça e, óbvio, não sabia muito bem como proceder. Fui orientado a não usar calça caqui no dia, pois esse é o uniforme que os presos utilizavam. Cheguei no horário estabelecido no fórum, apresentei-me ao motorista e fomos ao Carandiru. Lá chegando, fui recebido por um funcionário (agente penitenciário) que me informou que todas as intimações seriam realizadas em uma sala situada em um dos pavilhões. Ele me tratava a todo tempo por “Oficial” e eu estava achando ótimo: se o cara estava me tratando com respeito, é porque não estava percebendo a minha insegurança de Oficial de Justiça novato.
Fomos então nos dirigindo ao interior do Carandiru. Em um dado momento, antes de ingressar no primeiro pavilhão, seria necessário passar por uma revista, pois ninguém, exceto os agentes que faziam o policiamento, poderia ingressar com armas dentro dos pavilhões. A “revista” foi assim: um outro funcionário, que estava sentado em cima de uma mesa com cara de entediado, disse o seguinte:
- Você está com alguma arma aí?
Eu respondi que não e ele então disse que eu poderia entrar. Só isso, nada mais.
Uma porta após outra foi se fechando atrás de mim. Até aí, tudo bem. Eu estava tranqüilo, pois estava ao lado de um funcionário que conhecia muito bem o presídio. Ele me disse que os presos estariam de calça caqui. Logicamente, quem não estivesse de calça caqui seria funcionário do presídio.
Quando cheguei ao primeiro pátio, vi um grande número de pessoas trabalhando. Todas elas usando calça caqui. Não foi uma visão muito agradável.
Na verdade, toda vez que ocorria alguma rebelião nos presídios, os bons funcionários ficavam sabendo com alguma antecedência. Por “bons funcionários” entenda-se o seguinte: é aquele que não espancava os presos. Havia outra “categoria” de funcionários, chamados de “caceteiros”, exatamente porque regularmente davam cacete nos presos. Em caso de rebelião no presídio, os “caceteiros” eram os primeiros a sofrer a revanche dos presos, pois os “bons funcionários” tinham o tempo necessário para fugir e esperar a chegada do batalhão de choque da Polícia Militar resolver o problema.
O clima parecia tranqüilo naquele dia. O funcionário que estava comigo ia me explicando como as coisas funcionavam no Carandiru, que os presos trabalhavam para ter redução da pena etc. Naquele momento, eu ainda não estava com medo, a despeito do mar de calças caquis que estava ao nosso redor.
Chegamos a uma sala minúscula, onde receberíamos os presos. Teoricamente, eu é quem deveria fazer as citações e intimações. Mas quem fez tudo foi o funcionário do presídio, que conhecia muito mais do que eu a respeito do que seria o meu trabalho.
Ele ia falando com os presos algo como “bronca de seis anos em regime fechado” (“bronca”, na gíria penal, significa sentença condenatória ou pena de prisão), “levou uma bronca baixa, deu sorte” etc. Ele ia explicando e orientando os presos, inclusive quanto a possibilidade de recorrer das sentenças condenatórias. Explico: além do direito de o advogado recorrer, o preso pode, no ato em que é intimado, manifestar o direito de recorrer da sentença condenatória. E quase todos os presos perguntavam se era vantagem recorrer ou não. O funcionário foi orientando cada um deles e eu estava tranqüilo. Indiscutivelmente, eu estava ao lado de um “bom funcionário” e nem mesmo quando a pequena sala ficou com um número exagerado de presos eu fiquei com medo.
Mas, evidentemente, a coisa não poderia ser assim tão tranqüila. Tinha que dar alguma merda justamente no dia em que eu estava no Carandiru. É a famosa Lei de Murphy (“se algo pode dar errado, dará errado; se algo não pode dar errado, talvez dê certo”). E deu uma merdinha mesmo, felizmente rapidamente contornada em razão da experiência prática dos funcionários do presídio. Foi assim:
Todo mundo já ouviu falar nos famosos “justiceiros”: são pessoas que matam bandidos ou supostos bandidos. Como matar alguém é crime, mesmo que esse alguém seja bandido, salvo nas hipóteses de excludentes de ilicitude, os “justiceiros” podem acabar presos. E ser um “justiceiro” em um presídio é algo muito perigoso, pois os demais criminosos odeiam os “justiceiros”. Por isso os “justiceiros” ficavam separados dos demais presos. Em um presídio imenso como o Carandiru, com vários pavilhões, nem todo mundo sabia quem era quem. Presos de pavilhões diferentes poderiam passar anos se sequer se verem.
Em um dado momento, nós estávamos intimando um grupo de “justiceiros”. O funcionário, que estava tranqüilo demais simplesmente porque estava realizando seu trabalho diário, soltou a seguinte frase em voz alta o suficiente para ser ouvida fora da sala:
- Tá precisando de uns “justiceiros” lá no meu bairro, porque tem muito bandido.
Justamente nessa hora estava chegando presos de um outro pavilhão, que perceberam na hora que nós estávamos com “justiceiros” na sala.
O funcionário que estava trazendo esses presos (que não estavam algemados, porque ninguém fica assim no presídio) percebeu que poderia dar merda e brecou imediatamente a entrada dos presos na sala.
Eu vi um justiceiro ficar branco de medo. Parecia que o cara iria desmaiar. O funcionário que estava na sala comigo se levantou da cadeira rapidamente e foi até a porta. Disse em tom imperativo:
- Ninguém entra nem sai da sala!
Os presos que estavam do lado de fora ficaram se olhando, como quem pergunta o que deveria ser feito naquele momento. Com exceção dos “justiceiros” (óbvio), o mais amedrontado era eu, porque eu já tinha lido alguma vez que na hora que dá merda no presídio, a primeira coisa que é feita pelos presos é obrigar o refém a trocar de calça com ele. Depois disso tudo pode acontecer.Nós estávamos em grande desvantagem numérica:
continua...
Contudo, já naquela época, para realizar citações e intimações de pessoas presas em presídios do Estado (não em delegacias), havia uma central de mandados: todo dia um oficial de uma das varas criminais iria cumprir os mandados de todas as varas em todos os presídios situados na Comarca da Capital (entenda-se: situados no Município de São Paulo).
Isso era chamado de rodízio: íamos com o motorista do fórum fazer as diligências nos vários presídios. Por esse motivo, conheci todos os presídios situados na cidade de São Paulo, bem como várias das suas peculiaridades. Evidentemente, visitar presídios não era nem um pouco agradável.
O famoso Carandiru, que foi tema de um filme exageradamente romanceado (mostrou o presídio como se fosse uma festa...) e hoje não mais existe, foi o primeiro presídio que eu visitei. Foi logo que comecei a trabalhar como oficial de justiça e, óbvio, não sabia muito bem como proceder. Fui orientado a não usar calça caqui no dia, pois esse é o uniforme que os presos utilizavam. Cheguei no horário estabelecido no fórum, apresentei-me ao motorista e fomos ao Carandiru. Lá chegando, fui recebido por um funcionário (agente penitenciário) que me informou que todas as intimações seriam realizadas em uma sala situada em um dos pavilhões. Ele me tratava a todo tempo por “Oficial” e eu estava achando ótimo: se o cara estava me tratando com respeito, é porque não estava percebendo a minha insegurança de Oficial de Justiça novato.
Fomos então nos dirigindo ao interior do Carandiru. Em um dado momento, antes de ingressar no primeiro pavilhão, seria necessário passar por uma revista, pois ninguém, exceto os agentes que faziam o policiamento, poderia ingressar com armas dentro dos pavilhões. A “revista” foi assim: um outro funcionário, que estava sentado em cima de uma mesa com cara de entediado, disse o seguinte:
- Você está com alguma arma aí?
Eu respondi que não e ele então disse que eu poderia entrar. Só isso, nada mais.
Uma porta após outra foi se fechando atrás de mim. Até aí, tudo bem. Eu estava tranqüilo, pois estava ao lado de um funcionário que conhecia muito bem o presídio. Ele me disse que os presos estariam de calça caqui. Logicamente, quem não estivesse de calça caqui seria funcionário do presídio.
Quando cheguei ao primeiro pátio, vi um grande número de pessoas trabalhando. Todas elas usando calça caqui. Não foi uma visão muito agradável.
Na verdade, toda vez que ocorria alguma rebelião nos presídios, os bons funcionários ficavam sabendo com alguma antecedência. Por “bons funcionários” entenda-se o seguinte: é aquele que não espancava os presos. Havia outra “categoria” de funcionários, chamados de “caceteiros”, exatamente porque regularmente davam cacete nos presos. Em caso de rebelião no presídio, os “caceteiros” eram os primeiros a sofrer a revanche dos presos, pois os “bons funcionários” tinham o tempo necessário para fugir e esperar a chegada do batalhão de choque da Polícia Militar resolver o problema.
O clima parecia tranqüilo naquele dia. O funcionário que estava comigo ia me explicando como as coisas funcionavam no Carandiru, que os presos trabalhavam para ter redução da pena etc. Naquele momento, eu ainda não estava com medo, a despeito do mar de calças caquis que estava ao nosso redor.
Chegamos a uma sala minúscula, onde receberíamos os presos. Teoricamente, eu é quem deveria fazer as citações e intimações. Mas quem fez tudo foi o funcionário do presídio, que conhecia muito mais do que eu a respeito do que seria o meu trabalho.
Ele ia falando com os presos algo como “bronca de seis anos em regime fechado” (“bronca”, na gíria penal, significa sentença condenatória ou pena de prisão), “levou uma bronca baixa, deu sorte” etc. Ele ia explicando e orientando os presos, inclusive quanto a possibilidade de recorrer das sentenças condenatórias. Explico: além do direito de o advogado recorrer, o preso pode, no ato em que é intimado, manifestar o direito de recorrer da sentença condenatória. E quase todos os presos perguntavam se era vantagem recorrer ou não. O funcionário foi orientando cada um deles e eu estava tranqüilo. Indiscutivelmente, eu estava ao lado de um “bom funcionário” e nem mesmo quando a pequena sala ficou com um número exagerado de presos eu fiquei com medo.
Mas, evidentemente, a coisa não poderia ser assim tão tranqüila. Tinha que dar alguma merda justamente no dia em que eu estava no Carandiru. É a famosa Lei de Murphy (“se algo pode dar errado, dará errado; se algo não pode dar errado, talvez dê certo”). E deu uma merdinha mesmo, felizmente rapidamente contornada em razão da experiência prática dos funcionários do presídio. Foi assim:
Todo mundo já ouviu falar nos famosos “justiceiros”: são pessoas que matam bandidos ou supostos bandidos. Como matar alguém é crime, mesmo que esse alguém seja bandido, salvo nas hipóteses de excludentes de ilicitude, os “justiceiros” podem acabar presos. E ser um “justiceiro” em um presídio é algo muito perigoso, pois os demais criminosos odeiam os “justiceiros”. Por isso os “justiceiros” ficavam separados dos demais presos. Em um presídio imenso como o Carandiru, com vários pavilhões, nem todo mundo sabia quem era quem. Presos de pavilhões diferentes poderiam passar anos se sequer se verem.
Em um dado momento, nós estávamos intimando um grupo de “justiceiros”. O funcionário, que estava tranqüilo demais simplesmente porque estava realizando seu trabalho diário, soltou a seguinte frase em voz alta o suficiente para ser ouvida fora da sala:
- Tá precisando de uns “justiceiros” lá no meu bairro, porque tem muito bandido.
Justamente nessa hora estava chegando presos de um outro pavilhão, que perceberam na hora que nós estávamos com “justiceiros” na sala.
O funcionário que estava trazendo esses presos (que não estavam algemados, porque ninguém fica assim no presídio) percebeu que poderia dar merda e brecou imediatamente a entrada dos presos na sala.
Eu vi um justiceiro ficar branco de medo. Parecia que o cara iria desmaiar. O funcionário que estava na sala comigo se levantou da cadeira rapidamente e foi até a porta. Disse em tom imperativo:
- Ninguém entra nem sai da sala!
Os presos que estavam do lado de fora ficaram se olhando, como quem pergunta o que deveria ser feito naquele momento. Com exceção dos “justiceiros” (óbvio), o mais amedrontado era eu, porque eu já tinha lido alguma vez que na hora que dá merda no presídio, a primeira coisa que é feita pelos presos é obrigar o refém a trocar de calça com ele. Depois disso tudo pode acontecer.Nós estávamos em grande desvantagem numérica:
continua...
Marcadores:
carandiru,
intimação,
justiceiros,
oficial de justiça,
penitenciária,
presídio,
prisão
Tópicos do livro a respeito do trabalho de Oficial de Justiça
Meu método de escrever contempla isto: à medida em que vou escrevendo, percebo a necessidade de alterar a estrutura do livro. Por isso mudo um pouco os tópicos. Agora o índice do livro está assim:
Advertência ao leitor.
1.A primeira favela. O lado pobre da rica cidade de São Paulo.
2.Estudando para o concurso público: de filhinho de papai (adolescência) a Oficial de Justiça (fase adulta).
3.A vara criminal.
4.Os bandidos, as vítimas e as testemunhas.
5.Minha mãe, as mães dos bandidos e as mães das vítimas. Família, pobreza e criminalidade.
6.Investigadores de polícia, carteiros e cobradores de ônibus.
7.Advogados, juízes e outras espécies da fauna judiciária.
8.O dia em que, sem querer, eu plantei uma nulidade em um processo criminal.
9.O dia em que eu evitei fosse plantada uma nulidade em um processo criminal.
10. O centro de São Paulo. O fórum e o elevador do fórum.
11.O Carandiru e outros presídios.
12.As delegacias de polícia. O problema da segurança pública em São Paulo.
13.A corrupção na polícia e no Judiciário.
14.Políticos, empresários e prostitutas.
15.Crime de rico e crime de pobre.
16.A parte boa de São Paulo.
17.Dando “carteirada” como Oficial de Justiça.
18.A Faculdade de Direito do Largo São Francisco.
19.A liberdade que o dinheiro proporciona.
20.Os desafios seguintes.
21.Conclusões.
Como se vê, há aspectos bastante interessantes que estou abordando no livro. Alguns decorreram de pedidos formulados por e-mail.
.
Advertência ao leitor.
1.A primeira favela. O lado pobre da rica cidade de São Paulo.
2.Estudando para o concurso público: de filhinho de papai (adolescência) a Oficial de Justiça (fase adulta).
3.A vara criminal.
4.Os bandidos, as vítimas e as testemunhas.
5.Minha mãe, as mães dos bandidos e as mães das vítimas. Família, pobreza e criminalidade.
6.Investigadores de polícia, carteiros e cobradores de ônibus.
7.Advogados, juízes e outras espécies da fauna judiciária.
8.O dia em que, sem querer, eu plantei uma nulidade em um processo criminal.
9.O dia em que eu evitei fosse plantada uma nulidade em um processo criminal.
10. O centro de São Paulo. O fórum e o elevador do fórum.
11.O Carandiru e outros presídios.
12.As delegacias de polícia. O problema da segurança pública em São Paulo.
13.A corrupção na polícia e no Judiciário.
14.Políticos, empresários e prostitutas.
15.Crime de rico e crime de pobre.
16.A parte boa de São Paulo.
17.Dando “carteirada” como Oficial de Justiça.
18.A Faculdade de Direito do Largo São Francisco.
19.A liberdade que o dinheiro proporciona.
20.Os desafios seguintes.
21.Conclusões.
Como se vê, há aspectos bastante interessantes que estou abordando no livro. Alguns decorreram de pedidos formulados por e-mail.
.
Marcadores:
descrição,
livro,
oficial de justiça,
tópicos,
trabalho
Assinar:
Comentários (Atom)